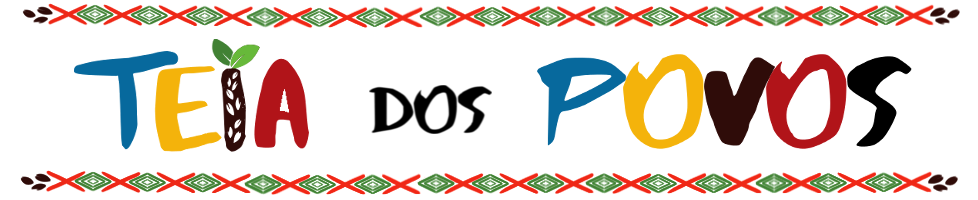por Xavier Bartaburu
- Autodenominado Tikmũ’ũn, o povo Maxakali vive hoje em uma pequena fração do que era seu território original, que se estendia pelo nordeste de Minas Gerais até o sul da Bahia.
- Confinados em quatro pequenas reservas indígenas tomadas pelo pasto, os Maxakali sofrem de fome, doenças e altas taxas de mortalidade; também lhes falta a Mata Atlântica, fundamental para a manutenção de sua rica e complexa cosmologia.
- Para reverter o desmatamento e assegurar a soberania alimentar, o projeto Hãmhi vem formando agentes agroflorestais Maxakali para a criação de agroflorestas e áreas de reflorestamento; a presença dos yãmĩyxop, os povos-espíritos, vem sendo essencial nesse processo.
TERRA INDÍGENA MAXAKALI, Minas Gerais — Em vez dos bois, os indígenas. E nada mais muda na paisagem tão logo se cruza a placa que anuncia a entrada da Terra Indígena Maxakali. O resto é capim. Nem mesmo o alto dos morros escapou da pelagem parda que em certo momento vestiu o território ancestral dos Tikmũ’ũn e a ele se agarrou como a casca das feridas se adere à pele. Toda manhã, a névoa que devagar se levanta sobre o solo morto parece agora expressar a trágica fisionomia das mortalhas.
Quando Joviano Maxakali me pediu para acompanhá-lo na busca de embaúbas, não pensei que fôssemos tão longe: duas horas de estrada entre imensas touceiras de capim-colonião para alcançar um ponto muito além dos limites norte da Terra Indígena, onde um naco de Mata Atlântica sobreviveu ao avanço do pasto. Lá onde as embaúbas crescem robustas e os povos-espíritos não passam fome.
Tuthi, a fibra da embaúba, é a “fibra-mãe” dos Tikmũ’ũn, árvore encantada com cuja linha os ancestrais teriam tecido os mais diversos objetos mágicos, entre eles o fio que antes conectava o céu e a terra e permitia que pessoas e espíritos transitassem entre os dois mundos. Contam os indígenas que essa linha um dia se cortou, e os espíritos, para poder descer à terra, tiveram que se converter em animais. Os bichos seriam, então, a forma física com que hoje os parentes mortos se apresentam aos vivos.
Tão sagrada é a embaúba para os Tikmũ’ũn que há um canto para cada etapa do longo processo de transformar a fibra da entrecasca na linha com a qual as mulheres tecem bolsas, bodoques, arcos e redes de pesca, além das máscaras que os povos-espíritos vestem quando visitam a terra. A música, para elas, é uma das formas de ativar o poder xamânico da árvore. A outra é a saliva: molhando a linha durante o processo de fiação, as mulheres Tikmũ’ũn transferem seu espírito à embaúba, conferindo-lhe inclusive capacidade de cura.
É por tudo isso que Joviano Maxakali não medirá esforços na busca de embaúbas, onde quer que elas ainda existam naquele que um dia foi o território Tikmũ’ũn: uma vasta área que cobria o nordeste de Minas Gerais e o litoral sul da Bahia, hoje reduzida a 6.578 hectares praticamente desprovidos de floresta, distribuídos em quatro reservas separadas e distantes umas das outras — uma terra indígena de 5.305 hectares e outras três microrreservas com tamanhos entre 120 e 600 hectares.
Todas elas repletas do pior pasto possível, que é o capim-colonião, gramínea africana das mais agressivas, cujas raízes inviabilizam qualquer tipo de cultivo: matam o solo para que suas folhas cresçam vigorosas, para além dos dois metros de altura. Difícil de capinar, além de tudo.

Paisagem da Terra Indígena Maxakali. Foto: Xavier Bartaburu

Trabalho manual com a fibra da embaúba. Foto: Xavier Bartaburu
“Igual gado”
Todo indígena brasileiro tem uma história de extermínio para contar sobre si mesmo, mas é especialmente trágica a saga deste povo que nós chamamos de Maxakali, mas que se dá o nome de Tikmũ’ũn (“nós, homens e mulheres”).
Outrora acostumados a percorrer os vales do Mucuri, do Jequitinhonha e do Rio Doce em busca de caça, peixes e frutos, os Tikmũ’ũn/Maxakali se veem hoje habitantes de uma paisagem distópica, cercada por arames — em tese para manter o gado das fazendas vizinhas do lado de fora, o que na prática não ocorre — e desprovida de mata, rio, água e terra para plantar e perambular.
“Tihik [pessoa Tikmũ’ũn] gosta de andar. É nossa cultura. Mas hoje nós não temos como sair daqui. Estamos presos”, diz Isael Maxakali, pajé, artista visual, cineasta e uma das principais lideranças de seu povo. “Esta não é uma terra de liberdade, está toda cercada. Nós somos igual gado. Tudo preso.”
Esse território encurralado é praticamente tudo o que restou de uma devastação sistemática, acelerada nos últimos cem anos, desde a implantação da Estrada de Ferro Bahia-Minas em 1911 e a consequente expansão agropecuária — ambas empenhadas em eliminar tudo o que estivesse no caminho, fossem matas ou indígenas.
Conta-se que os fazendeiros, na época, contrataram um “amansador de índios”, de nome Joaquim Fagundes, encarregado de conquistar a confiança dos Maxakali e torná-los mais “dóceis”. O homem disse ter gastado 38 contos de réis nessa empreitada e exigiu reembolso do governo. Ao não ser restituído, vendeu as terras Tikmũ’ũn a gente de fora e depois sumiu, deixando que os compradores e os indígenas se entendessem entre si.

Joviano Maxakali entre touceiras de capim-colonião. Foto: Xavier Bartaburu
O que se seguiu foi todo tipo de violência, de incêndios intencionais a doação de roupas contaminadas com varíola, além de numerosos assassinatos. Segundo o censo de 1942, restavam apenas 59 Tikmũ’ũn na região, concentrados ao longo dos córregos Umburanas e Água Boa, no Vale do Mucuri — uma fração ínfima do território original.
Foi nessa época que o SPI (Serviço de Proteção ao Índio, órgão antecessor da Funai) demarcou uma pequena reserva Tikmũ’ũn, embrião da atual Terra Indígena Maxakali. Mas não sem também tomar parte do esbulho: terras do entorno, pertencentes aos indígenas, foram arrendadas pelo próprio SPI a posseiros, entre eles seus próprios funcionários, para a instalação de colônias agrícolas. A estratégia, na época, era forçar uma convivência com os não-indígenas para “integrar” os Tikmũ’ũn à sociedade hegemônica.
Essa lógica ganhou tintas de crueldade durante o regime militar, com a chegada à região de Manoel Pinheiro, capitão da Polícia Militar de Minas Gerais, idealizador do Reformatório Krenak — presídio destinado a indígenas “rebeldes”, ali submetidos a castigos físicos — e criador da Guarda Rural Indígena, milícia que recrutava indígenas como soldados. Em terras Maxakali, com o apoio do SPI, o capitão Pinheiro forçou os indígenas a trabalhar em um sistema de agricultura extensiva sob estreita vigilância, proibindo a caça e as roças tradicionais. Além disso, se apossou de parte do território e ainda enviou centenas de jacarandás a madeireiras.

O território Maxakali, que antes cobria três vales, hoje está reduzido a 6.578 hectares, distribuídos em uma Terra Indígena e quatro microrreservas.
“Eles começam a morrer aos 20 anos”
Quando enfim a Terra Indígena Maxakali foi declarada em 1993, com 5.305 hectares, restavam 30% de Mata Atlântica na reserva. Desde então, mesmo dentro da TI, segundo computou o MapBiomas, outros 700 hectares de floresta foram cortados para dar lugar ao pasto, deixando o território com 17% de vegetação original — e sem nenhuma embaúba nela. Considerando que os Tikmũ’ũn não criam gado, é de se supor quem foram os responsáveis.
Mas a falta de floresta é só um dos problemas. Os rios da TI estão há muito empesteados pelos dejetos das fazendas vizinhas, sejam fezes, lixo ou produtos químicos. Resta aos indígenas beber a água dos poços artesianos, e com ela os coliformes fecais e metais pesados ali contidos: um estudo detectou níveis de ferro 295 vezes maiores do que o permitido pelo Ministério da Saúde (quase 30.000%) nos córregos Umburanas e Água Boa, enquanto o teor de alumínio encosta nos 25.000%. E há 18 vezes mais do que deveria de arsênio, substância usada em pesticidas.
Não é à toa que a mortalidade infantil dentro da TI é dez vezes maior do que nos municípios do entorno — que possuem os menores IDHs em Minas Gerais. Uma em cada quatro crianças Maxakali morre antes de 1 ano de idade. E as que sobrevivem mal chegam à fase adulta. “Eles começam a morrer aos 20 anos”, diz Rosângela de Tugny, etnomusicóloga que há duas décadas desenvolve pesquisas com o povo Tikmũ’ũn, enquanto mostra como a pirâmide etária da população local se afina conforme avança a idade — apenas 5% dos cerca de 2.500 Maxakali existentes passam dos 50 anos.

Criança Maxakali na aldeia Nova Vila. Foto: Xavier Bartaburu

Conjunto de casas cercadas pelo pasto nos arredores da aldeia Pradinho. Foto: Xavier Bartaburu
“É uma história de muita violação”, diz Douglas Krenak, coordenador regional da Funai em Minas Gerais e Espírito Santo. “A gente precisa que o Estado brasileiro, que foi cúmplice da devastação na ditadura, repare esse passivo que foi deixado.”
Por ora, segundo Douglas, a Funai vem se responsabilizando por ajudar no monitoramento das áreas invadidas pelo gado, quase sempre em decorrência dos incêndios provocados pelos fazendeiros para renovar a pastagem, que acabam destruindo as cercas que protegem o território. “Essas cercas precisam ser constantemente renovadas, e essa não é uma tarefa fácil porque faltam recursos, e a burocracia para esse tipo de trabalho é gigantesca.”
Inclua-se como agravante o aquecimento provocado pelas mudanças climáticas, que tem aumentado a potência dos incêndios no nordeste de Minas Gerais — atualmente a região mais quente do Brasil. Em 2023, dos 20 municípios que mais aqueceram no país, 19 estão no Vale do Jequitinhonha. Araçuaí, a 250 quilômetros da TI Maxakali, registrou a maior temperatura da história nacional: 44,8 °C em novembro de 2023. A ausência de áreas verdes para refrescar esse calor torna tudo ainda mais dramático para os Tikmũ’ũn.

Joviano Maxakali retirando a fibra da entrecasca da embaúba. Foto: Xavier Bartaburu

Zinha Maxakali, moradora da aldeia Nova Vila. Foto: Xavier Bartaburu
Um porco para os espíritos
“Antigamente tinha mato grande. Yãmĩyxop caçava bicho no mato e trazia pra gente queixada, caititu, veado, anta”, lembra Manoel Damásio, pajé da aldeia Nova Vila, uma das maiores da Terra Indígena Maxakali. “Agora nós estamos precisando de bicho pra comer.”
Yãmĩyxop é o nome dos povos-espíritos que habitam o mundo Tikmũ’ũn e se manifestam na forma de animais, plantas e, em contexto ritual, mediados pelos homens das aldeias. As caçadas acontecem exatamente nessa circunstância, com a presença dos yãmĩyxop. Quem caça são eles. Porque também os espíritos precisam comer.
Como conta Marquinhos Maxakali, o maior talento das artes visuais da aldeia Nova Vila, ao mostrar uma pintura sua que retrata, de um lado, uma mata fechada povoada pelos yãmĩyxop e, do outro, um pasto por onde vagam, famintos, o gavião-espírito (Mõgmõka) e a fibra-da-mandioca-espírito (Kotkuphi): “Acabou mata, só tem capim agora. Yãmĩyxop tá passando fome.”

Ritual para os yãmĩyxop na aldeia Nova Vila. Foto: Xavier Bartaburu

Ritual para os yãmĩyxop na aldeia Nova Vila. Foto: Xavier Bartaburu
Tanto que o pajé Manoel não teve o menor constrangimento quando me pediu que lhe comprasse um porco — vivo, porque os yãmĩyxop precisavam caçá-lo antes de comê-lo. Na ausência de antas e caititus, o que resta aos Maxakali é reproduzir a caçada ritual com animais domésticos. Ou é isso, ou comprar frutas, bolachas e frangos congelados no supermercado com o dinheiro do Bolsa-Família, um dos poucos recursos de que os Tikmũ’ũn dispõem para alimentar a si mesmos e aos espíritos.
Foi assim que, ao entardecer de um sábado, o porco malhado de 200 quilos que providenciei, amarrado ao mastro cerimonial da aldeia Nova Vila, viu seu fim chegar pelas flechas do gavião-espírito. Na sequência, o suíno seria assado no fogo sagrado para dar de comer, por muitos dias, tanto a pessoas humanas quanto não-humanas.
Cada povo-espírito, explica Rosângela de Tugny, tem seu gosto alimentar: “O povo-morcego (Xũnĩm) prefere as bananas; o povo-macaco (Po’op), a melancia; o povo-papagaio (Putuxop), o milho”. E quem os alimenta, ela diz, são sempre as mulheres: “Os espíritos são como filhos adotivos das mulheres da aldeia. Elas cuidam como se fosse um parente”.
São as mulheres Tikmũ’ũn também as únicas que não falam português, o que, segundo Rosângela, é “estratégia de sobrevivência”. Elas são o receptáculo da língua maxakali, a única sobrevivente de um grupo de idiomas do tronco macro-jê que desapareceu com a colonização (o patxohã, falado pelos Pataxó e da mesma família, está sendo retomado). Os Maxakali são hoje um dos raros povos da Mata Atlântica a falar sua língua original, graças às mulheres. “Elas são a força da aldeia”, resume Rosângela.

Julinalva Maxakali com pintura de urucum. Foto: Xavier Bartaburu

Produção de artesanato com linha sintética, pela falta de fibra de embaúba. Foto: Xavier Bartaburu
200 horas de cantos
Um dos grandes enigmas do povo Tikmũ’ũn é a capacidade de manter sua cultura, sua espiritualidade e seu repertório simbólico nesse contexto de absoluta devastação do território físico. É como se houvesse outro território, anímico, que se mantém intacto mesmo depois de dois séculos de contato com os brancos. Mesmo sem terra, mesmo com fome.
Conta Isael Maxakali que houve um tempo em que, na iminência do total apagamento, os pajés Tikmũ’ũn se reuniram e chegaram a uma conclusão: “Se a gente segurar a terra, vai acabar nossa cultura”. Foi assim que, segundo Isael, “o povo Tikmũ’ũn largou a terra para ãyuhuk [não indígena] e levou a cultura, a linguagem, os cantos”, e foi se esconder nas grutas da região. “Os pajés foram muito inteligentes. É por isso que nossa linguagem está viva.”
Viva e vacinada contra tudo que venha do mundo branco. É certo que os Tikmũ’ũn se servem dos mais variados objetos para compor as máscaras e vestimentas dos yãmĩyxop: cuecas, camisetas, sacos de lixo, linhas de blusas desfiadas, tintas industriais para pintar o rosto, tudo vale. Até o povo-lontra usa celulares para se comunicar entre si.
Mas é tudo resultado da tremenda escassez material deste território. Porque, embora os Maxakali adorem ouvir forró e pisadinha, os cantos pelos quais os yãmĩyxop se expressam permanecem incorruptos, imunes ao português, fronteira ainda mais impenetrável do que as cercas que deveriam protegê-los do gado vizinho.

Maciano Maxakali e seu desenho com representação dos yãmĩyxop. Foto: Xavier Bartaburu
E estamos falando de um dos mais ricos e complexos repertórios da musicalidade indígena brasileira: pelo menos 200 horas de cantos distribuídos por doze grupos de povos-espíritos, cada um deles um universo estético em si. “São doze repertórios associados a mitologias e imaginários muito diferentes”, diz Rosângela de Tugny, atualmente a maior pesquisadora no país desse acervo musical-espiritual.
Assim, o conjunto de cantos do povo-gavião abarca não somente o espírito da ave de rapina como também todos aqueles que são suas presas: a coruja, a perereca, a jacutinga. Já os povos-antas incluem os ruminantes de médio e grande porte, como veados, capivaras e até vacas. E o mais intrigante é que cada um tem suas próprias palavras, relacionadas à língua maxakali, mas não pertencentes a ela; como explica Rosângela, “é como se fosse o embrião de doze latins”.
Para a etnomusicóloga, é a pista de que cada conjunto de cantos sagrados talvez seja o resquício de línguas hoje extintas, faladas por povos aparentados com os Maxakali que viveram na região. Uma prova é que os Tikmũ’ũn são capazes de apontar a origem geográfica de cada povo-espírito: o povo-papagaio (Putuxop), por exemplo, teria vindo do litoral sul da Bahia — terra, aliás, dos Pataxó (note a semelhança de palavras). “Tem essa teoria de que o repertório viria da junção de vários povos que, para sobreviver, vieram se agrupar neste local mais montanhoso”, diz Rosângela.

Ritual na Terra Indígena Maxakali com a presença do gavião-espírito. Foto: Xavier Bartaburu
Reflorestar com a palavra
Mais do que remanescentes de povos desaparecidos, os cantos Tikmũ’ũn são a lembrança de uma Mata Atlântica que também já se foi. O repertório espiritual Maxakali descreve centenas de espécies de plantas e animais extintos na região, muitos que nem os mais velhos das aldeias conheceram.
O conjunto de cantos do povo-gavião, por exemplo, cita mais de cem espécies de bichos, incluindo umas trinta de aves que há muito já não cantam no território Tikmũ’ũn. “Tem descrições precisas desses pássaros nos cantos, mesmo sem eles nunca terem visto”, diz Rosângela.
Um dos cantos do gavião-espírito enumera 18 espécies de serpentes, enquanto o do papa-mel-espírito lista 33 espécies de abelhas nativas. Conta a pesquisadora que “eles mesmos falam que só tem duas dessas abelhas aqui. Tive que ir com eles no laboratório de Entomologia da UFMG [Universidade Federal de Minas Gerais] para eles identificarem essas abelhas”. Algumas, diz ela, sequer têm nome em português.
“Esses cantos são memórias da Mata Atlântica”, resume Rosângela. Em outras palavras, um inventário da biodiversidade da floresta que sobreviveu na voz dos Tikmũ’ũn, mesmo em terra morta e corpos doentes. Mas, como explica a pesquisadora, enquanto os Maxakali cantam, os limites do humano ganham força à medida que os povos-espíritos emprestam aos homens seu corpo sadio, sua voz, sua visão. É como se a natureza voltasse à vida, reflorestada pela palavra, em toda sua força.

À esquerda, urucum plantado em área de reflorestamento do projeto Hãmhi; à direita, o pajé Manoel Damásio, da aldeia Nova Vila. Fotos: Xavier Bartaburu
“Para eles, cada corpo tem uma potência, uma capacidade de fazer coisas que a gente aqui não pode. Quando cantam, é como se estivessem experimentando a potência de um corpo-gavião, um corpo-morcego; tudo o que eles veem e ouvem”, explica a pesquisadora, dando como exemplo um canto em que a saracura e o marreco empreendem uma viagem xamânica até as Plêiades. “Nosso yãmĩyxop é muito forte”, assegura o pajé Manoel.
É por essas e outras que os yãmĩyxop aparecem nas aldeias sempre que uma força extra se faça necessária — o que pode acontecer a qualquer momento. Como na ocasião em que os Tikmũ’ũn fizeram uma retomada de terra: quando os fazendeiros vieram para cima deles, quem veio lutar foram os yãmĩyxop, vestidos com máscaras, de pedras na mão. “Com uma pedrada, eles quebraram o vidro do carro”, diz Rosângela.
Também nas doenças os espíritos são fundamentais, pois os cantos dos yãmĩyxop trazem ao mesmo tempo o diagnóstico e a cura. Quando alguém está doente, o pajé pergunta “com que canto você sonhou?”. A resposta elucida qual é o povo-espírito que está causando aquele mal; basta entoar seus cantos para que se opere a cura.
Como explica Rosângela, “Uma vez perguntei para um deles: ‘por que vocês não esquecem esses cantos?’, e eles responderam: ‘se a gente esquecer, a gente perde a possibilidade de cura das nossas doenças.”

Crianças em área de pasto da Terra Indígena Maxakali. Foto: Xavier Bartaburu
“Pra ficar bonito”
Mas, como já vimos, também os yãmĩyxop precisam comer para se manter fortes. Foi por isso, para alimentar pessoas e espíritos, que um grupo de pesquisadores, junto com o Instituto Opaoká, idealizou o projeto Hãmhi – Terra Viva: uma iniciativa que visa povoar o território Tikmũ’ũn com áreas de Mata Atlântica e quintais agroflorestais — pelas mãos dos próprios indígenas.
Com verba proveniente de multas de compensação ambiental da Vale, mediada pela Plataforma Semente e o Caoma (Cordenação Operacional do Meio Ambiente), do Ministério Público de Minas Gerais, o projeto Hãmhi vem formando o que chama de “agentes agroflorestais”: trinta homens Maxakali que recebem sementes, mudas, kit de equipamentos agrícolas e formação em agroecologia, além de uma bolsa de 650 reais mensais, para o trabalho de reflorestamento nas matas e a criação de quintais agroflorestais nas aldeias. Como resume o pajé Manoel Damásio, “pra mata voltar, bicho voltar e religião voltar também. Pra ficar bonito”.
Em apenas um ano de projeto, iniciado em junho de 2023, os agentes agroflorestais Tikmũ’ũn já recuperaram 55 hectares de Mata Atlântica e plantaram outros 35 hectares de quintais agroecológicos. Em ambos, inclusive na mata, o alimento é a base, como explica Rosângela: “As áreas de reflorestamento têm cultivo também. A gente está lidando com uma população que passa fome. Não podemos passar por cima da necessidade de plantar comida”.

Joalson Maxakali, agente florestal do projeto Hãmhi. Foto: Xavier Bartaburu
É por isso que tanto as áreas reflorestadas quanto as roças têm as frutíferas como alicerce — que, dependendo do objetivo, podem ser bananeiras, goiabeiras e jaqueiras ou espécies nativas como araçá, araticum, jerivá e mamãozinho-do-mato. Onde estiverem, árvores frutíferas fornecem sombra, temperaturas amenas, nutrientes para o solo, controle da erosão e, é claro, alimento a pessoas, bichos e espíritos. Neste primeiro ano de Hãhmi, os agentes já plantaram cerca de 47 mil mudas dessas árvores.
Ao rés do chão, nas roças agroflorestais, mandiocas, abóboras, milhos, feijões, batatas-doces e mais meia centena de cultivos contribuem para a meta de tirar os Tikmũ’ũn da desnutrição, garantir-lhes soberania alimentar e, como diz Rosângela, “oferecer uma possibilidade para essa juventude que está morrendo”.
Morrendo, inclusive, de alcoolismo, um dos mais graves problemas sociais do território Maxakali — estimulado, aliás, pelos donos dos estabelecimentos locais, que usam a venda de álcool como forma de extorquir os indígenas. Não é mais o caso, felizmente, de Roberto Maxakali: “Eu bebia pinga, mas depois que comecei a trabalhar como agente agroflorestal eu não estou bebendo muito. Porque tem trabalho pra fazer, né?”.

Maurilio Maxakali, agente florestal do projeto Hãmhi. Foto: Xavier Bartaburu
As mulheres, por sua vez, se encarregam dos viveiros do projeto: são três deles, totalizando 35 mil mudas de espécies da Mata Atlântica e outras 37 mil de frutíferas, zeladas pelas quinze viveiristas do Hãmhi como o “útero da floresta”, como elas chamam. As mudas foram doadas pelo Instituto Estadual de Florestas e pelo Programa Arboretum, e cabe às mulheres garantir que cada planta cresça o suficiente para encontrar seu lugar na mata. Esse trabalho inclui, às vezes, capinar o próprio saco plástico que contém as mudas, pois, como conta Rosângela, “surge capim até dentro dos saquinhos”.
O maior desafio do projeto Hãmhi é justamente vencer o capim-colonião, uma corrida desonesta em que a gramínea sai na frente, dado o vigor de suas sementes. A engenheira florestal Viviane Barazetti, coordenadora técnica do Programa Arboretum explica que “não é só plantar muda. O capim-colonião cresce mais rápido que as frutíferas; precisamos voltar nos quintais a cada três meses”. “Olha lá uma área que ninguém manejou”, complementa Rosângela, apontando para um capinzal que já supera a altura das bananeiras.
Não há melhor metáfora para a crise de sobrevivência dos Tikmũ’ũn do que esse capim que, como o nome já diz, traz a marca do colonizador. Mas a fome é grande e, em se tratando do povo Maxakali, convém não se esquecer que a mais sagrada de suas árvores é justo a embaúba, espécie dita pioneira, capaz de germinar no solo mais hostil e, com seus nutrientes, preparar o terreno para que outras plantas ali cresçam, até surgir uma nova floresta.

Jovelina Maxakali, viveirista do projeto Hãmhi na aldeia Água Boa. Foto: Xavier Bartaburu
Munidos da força da embaúba, os Tikmũ’ũn têm ainda ajuda extra dos yãmĩyxop, que participam ativamente de todas as etapas do projeto: “No dia que nós começamos o primeiro mutirão de plantio, os espíritos vieram primeiro e cantaram para todas as mudas do viveiro; depois ficaram acompanhando todo o processo de plantio, como se estivessem supervisionando”, conta Rosângela. E a colheita, diz ela, não se faz sem que os yãmĩyxop autorizem.
O esforço tem compensado, como explica Rogério Maxakali, morador da aldeia Água Boa: “A gente só comia coisa de ãyuhuk [não-indígena], que não combina com a gente. Yãmĩyxop também. Hoje a gente come bastante mandioca, batata-doce, abóbora. Não precisa mais comprar na cidade”. Rosângela comenta que os agentes agroflorestais do Hãmhi viraram inclusive um exemplo multiplicador, ou seja, outros Maxakali começaram a fazer suas roças agroecológicas por conta própria nas aldeias. Em breve, poderão vender a colheita nas cidades próximas.
Douglas Krenak, da Funai, enxerga mais longe: “O Hãmhi tem potencial de mostrar pro Estado que é possível reconstruir um território que o próprio Estado destruiu. Aqui pode ser um projeto-piloto para amenizar conflitos fundiários e problemas socioambientais no Brasil”.

Roberto Maxakali, agente agroflorestal do projeto Hãmhi. Foto: Xavier Bartaburu

Campo de futebol na aldeia Nova Vila. Foto: Xavier Bartaburu
Cantar para reflorestar
Enquanto na Terra Indígena Maxakali os agentes agroflorestais travam uma batalha contra o capim-colonião (e tudo o que ele representa), a 200 quilômetros dali, na zona rural de Teófilo Otoni, Isael Maxakali respira, enfim, aliviado.
Isael é pajé do que ele denominou Aldeia-Escola-Floresta, uma reserva de 121 hectares para onde cem famílias Tikmũ’ũn se mudaram em 2021, depois de uma longa peregrinação em busca de uma terra.
Desde a saída da TI Maxakali em 2004, por conta de conflitos internos, foram 17 anos habitando diversos territórios — cinco, para ser exato — repletos de capim, sem acesso à água, e sofrendo com estelionatários, missionários evangélicos e uma usina hidrelétrica com risco de ruir sobre as casas. Quando enfim descobriram as terras devolutas da Fazenda Itamunheque, quase 400 Tikmũ’ũn, liderados por Isael e sua mulher Sueli, ocuparam-na em apenas uma noite.

Sueli Maxakali e Isael Maxakali, lideranças da Aldeia-Escola-Floresta. Foto: Xavier Bartaburu
O território é pequeno e ainda por cima cercado de morros, o que amplia a sensação de aprisionamento que Isael relatou no início. Mas é, finalmente, terra Tikmũ’ũn: em 26 de abril de 2024, o governo federal assinou o Contrato de Cessão de Uso Gratuito, reconhecendo o direito dos Maxakali sobre a Aldeia-Escola-Floresta.
O nome, diz Isael, é “porque aqui todo lugar é sala de aula”. A começar pela floresta, que em três anos cresceu sozinha sobre os morros, abraçando, como num anfiteatro, os quintais agroflorestais do projeto Hãmhi que se espalham pelo vale. O que a Mata Atlântica ensina, aqui, é seu assombroso poder de regeneração — e seu poder de pacto com os espíritos.
“Aqui não tinha nada. Só capim e carrapato”, lembra Isael. “Aí nós chegamos e começou a chover. O vizinho do assentamento aqui do lado perguntou: ‘ô, Isael, o que você fez? Quando não tinha vocês aqui não chovia; agora tá chovendo direto’”. O que eles fizeram, no caso, foi cantar para o morcego-espírito, “porque ele é quem chama a chuva”. Depois as árvores, à medida que cresciam, se encarregaram de tirar com suas raízes a força do capim-colonião.
“A terra é que nem um cachorro quando pega sarna: você tem que dar remédio para ele ser curado”, diz Sueli Maxakali, esposa de Isael e uma das mais importantes lideranças femininas do povo Tikmũ’ũn. “A terra é a mesma coisa: quando a gente vê o capim, os pelos da terra, é a casca que tá doente.” E, como sabemos, nas terras Maxakali, não há cura melhor que a música dos yãmĩyxop.
Parece ter dado certo: “Tem dois anos já que ela vem reflorestando sozinha”, conta Sueli. “E tem muito, muito passarinho cantando. Eles estão felizes porque veem a mata voltando. Tá ouvindo?”, e ela aponta a mão para o céu. Um pio rasga o vale, pergunto o nome, e ela diz: “a gente chama xãmtut, não sei traduzir.” Fico sabendo depois: é um choró-boi. “É um passarinho que é mãe pra nós.”

Sueli Maxakali diante de morro reflorestado na Aldeia-Escola-Floresta. Foto: Xavier Bartaburu
Matéria originalmente publica em: https://brasil.mongabay.com/2024/09/em-mg-os-maxakali-estao-convocando-os-espiritos-para-recuperar-a-mata-atlantica/