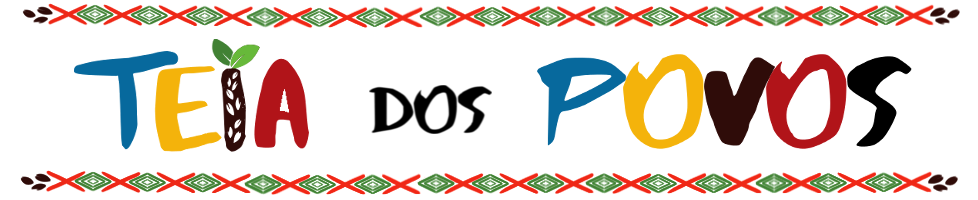por Renan Porto1
Ancestralidade Indígena Como Questão Futura:
Que planeta vamos deixar para as próximas gerações?
Renan Porto
Eu sou de uma família de agricultores do cacau numa comunidade rural na Bahia que teve ancestrais indígenas e brancos. Boa parte das pessoas em nossa comunidade também tiveram ancestrais indígenas, mas isso não compõe a forma como nós nos entendemos e nos narramos coletivamente. Perdemos os vínculos com as tradições indígenas e muitos sequer sabem os nomes dos bisavós. Existe um apagamento brutal do passado, da memória, da ancestralidade e das identidades indígenas.
Apesar disso, e por mais que alguns não estejam atentos a isso, é fato que compartilhamos uma história de mais de dez mil anos com os povos indígenas que habitam o território do que veio a ser o Brasil e a Bahia. No caso de minha família, por exemplo, nosso povoado – Florestal, distrito do município de Jequié – se formou com a chegada de pessoas indígenas nessa região. Sendo meu bisavô e seu irmão duas dessas pessoas. Na minha pesquisa de doutorado, eu conversei com muitas pessoas mais velhas do meu povoado e identifiquei que várias outras pessoas indígenas de famílias misturadas viviam dispersas por esta região, mas nunca consegui nenhuma informação sobre qualquer grupo étnico específico.
Eu cresci sem uma identidade bem definida. Não existe definição de cor na minha certidão de nascimento. Na Bahia, muitos dizem que eu sou branco, embora desde criança eu nunca tenha me sentido assim. Quando migrei para estudar no sudeste do Brasil, com certeza não fui tratado como branco pelos brancos. Sofri muito preconceito por causa de minha origem, meu jeito de falar e minha aparência. Porém, também não sou uma pessoa negra. Quando eu comecei a me informar sobre minha história familiar e sobre a história da minha comunidade em longas conversas com meus pais, tios e tias e pessoas mais velhas do meu povoado, comecei a falar da minha ancestralidade indígena com pessoas mais próximas, mas até amigos próximos zombaram e não levaram à sério. Eu também não poderia ser indígena. Fora do Brasil, muitas vezes sou abordado em espanhol porque as pessoas sempre me reconhecem como latino. Conversei também com pessoas indígenas da minha região e de outras regiões do Brasil sobre isso. Algumas me acolheram enquanto descendente indígena e outras fizeram ponderações importantes. O que preocupava pessoas indígenas, com razão. Volto a estas preocupações logo abaixo.
Eu não cresci na cidade nem vim de uma família letrada. Sou fruto da dispersão centrífuga dos povos indígenas e não indígenas na zona rural da Bahia. Eu não tive acesso a nenhum objeto, imagem ou documento dos meus bisavós indígenas e só ouvi falar deles depois de crescido. Meu acesso ao passado da minha família e do meu povoado se deu principalmente através da história oral narrada pelas pessoas mais velhas. Minha família vive no mesmo território onde eu cresci há mais de um século e antes daí nossa história era indígena. Na região do meu povoado, a geração do meu pai e meus tios cresceu vivendo da pesca e da caça, além da agricultura. O cacau, que se tornou uma das principais atividades econômicas nessa região, era uma forma de agricultura rudimentar que só começou expandir e se modernizar nos anos 70, principalmente depois da chegada de agentes técnicos da CEPLAC nesta região. O que quero dizer com isso é que, décadas atrás, as pessoas tinham uma relação mais orgânica e de codependência com a terra e a floresta. Além de que usavam objetos indígenas como o jequi, cesto usado na pesca, e o moquém, objeto usado para preparar carne. Tudo isso se perdeu, mas ainda hoje agricultores do cacau seguem a quadra da lua para plantar. Conhecimento que se passou de geração a geração, como me contou meu pai. Mas nada disso faz de nós indígenas.
Importante observar que esse processo de questionamento não estava acontecendo só comigo, mas era coletivo, porém disperso. Descobri que já havia muitas discussões sendo feitas por redes sociais e lives no Youtube sobre o assunto. Em especial, uma palestra do Ailton Krenak intitulada O Truque Colonial Que Produz o Pardo, o Mestiço e Outras Categorias de Pobreza, que foi parte do seminário Não Sou Pardo, Sou Indígena promovido pela TV Tamuya no Youtube, foi um disparador e guia importante nessa reflexão para mim. O Ailton discute como as invenções de diversas categorias da mestiçagem como o caboclo, pardo, mulato, dentre outras, serviram tanto para negar a identidade de pessoas indígenas e consequentemente seu vínculo com determinado território, quanto eram usadas também como forma de sobrevivência por pessoas indígenas num contexto em que ser indígena poderia levar ao risco de ser capturado, violentado ou morto.
Estes riscos não desapareceram no presente. Há um ano, em janeiro de 2024, uma milícia rural chamada Invasão Zero mobilizou e organizou mais de duzentas pessoas para atacar uma comunidade Pataxó no sul da Bahia. O ataque envolveu pessoas armadas e levou à morte Nega Pataxó, uma importante liderança indígena Pataxó, além de deixar ferido o seu irmão, Cacique Nailton. Meses depois, o homem condenado pelo assassinato foi solto pela Justiça na Bahia.
Nós que somos descendentes indígenas e não crescemos tendo vínculo com comunidades indígenas tradicionais não estamos expostos a estes mesmos riscos e violências quando não estamos vinculados a um território em luta. É uma preocupação das pessoas indígenas que a demanda por reconhecimento de identidade indígena por parte de descendentes que não têm vínculos com as comunidades indígenas acabe dificultando ou impedindo políticas públicas voltadas a estas comunidades, que enfrentam séculos de violência. Reconhecendo a importância dessa ponderação, o que quero discutir neste texto não é uma reclamação de reconhecimento de minha identidade. Também não quero limitar a discussão sobre ancestralidade indígena ao reconhecimento de identidades individuais e o acesso às políticas públicas e direitos que nos vinculam a uma instituição fruto do processo histórico colonial que é o Estado brasileiro. As questões que elaboro aqui dizem respeito a quais outros modos de habitar coletivamente a terra e este planeta a ancestralidade indígena nos permite imaginar; quais modos de partilha comum da existência que estão para além do Estado a memória indígena nos leva a sonhar.
Aos que carregam na mente as formas de um tribunal de identidade e não conseguem ir além do limite de um julgamento analógico, que funciona por semelhança conforme certa forma simbólica mental pressuposta, não se preocupem que não preciso exigir mais do que tudo que já compõe a minha trajetória para dizer o que sou. Reduzir todas as questões que a ancestralidade indígena nos traz a um julgamento individualizante é suspender um processo criativo e vital que está pra além de um indivíduo. O que me inquieta ressoa por mais de um continente. Ou a ancestralidade indígena nos leva a reencantar nossa relação com o mundo, imaginar outros mundos diferentes e nos lança numa dança cósmica, como tanto fala o Ailton Krenak, ou isso vira um jogo de acusações que nos transforma em mais uma engrenagem do Estado e sua racionalidade de juiz e polícia.
Nesse processo de questionamento sobre ser descendente de indígena, percebi que a negação da possibilidade de ser indígena é constitutiva da sociedade brasileira. A instituição “Brasil” é fundada nessa violência, na negação da indigeneidade. Ora, se a história de uma sociedade é contada apenas em um século ou cinco, e se devemos nos entender apenas a partir de duas ou três gerações, podemos parar de falar de todo o resto do mundo. O que seria da China, por exemplo, que existe há mais de cinco milênios? E por quantas transformações aquele povo já não passou sem deixar de ser chinês? Mas, mais do que sentenciar qual identidade final foi o produto de tantos confrontos, me interessa mais questionar como habitar estes processos diferenciantes de modo a confluir enquanto novas coletividades mais heterogêneas, criativas, diversas, tais como viviam as centenas de coletividades indígenas que habitaram e habitam o território de Abya Yala e Pindorama por mais de dez mil anos. Assim como não conseguimos mais lembrar nossa história e nos entender em um passado mais longo, também não conseguimos enxergar muito além de uma ou duas gerações à nossa frente, isso quando não somos cegados pelo imediatismo consumista contemporâneo.
No Brasil, a identidade indígena ainda é muito carregada de estereótipos culturais, o que impede de ser uma forma de pertencimento étnico. Mas é preciso compreender a nossa relação com um tempo social e ecológico mais longo que nos liga a história de povos e territórios indígenas. Vivemos condicionados pelas necessidades impostas pela história capitalista, patriarcal e colonial, mas não estamos confinados a ela, nem aos seus modos de pensar nem as suas fronteiras fictícias que criam identidades nacionais cuja historicidade é recente comparada à nossa ancestralidade. E é por carregar esta última que podemos sonhar e inventar outros modos de habitar este mundo e outros que virão.
A escolha de me aliar à minha ancestralidade é também política e ética. É uma escolha por um caminho de aprendizado, de descolonização mental e de reflexão crítica sobre a história colonial que marca o Brasil e o lugar onde cresci no interior da Bahia. Não é dizer que estou conforme um ideal puro de indigeneidade e sim dizer que a história hegemônica, a história dos que venceram pela crueldade e pela imposição de poder, não pode apagar a memória indígena. Escolher essa aliança é escolher se colocar em diálogo e caminho com essa memória. O autorreconhecimento da ancestralidade indígena é uma posição etnopolítica: uma política de aliança com os povos indígenas. Tem a ver com um processo de reeducação antes de tudo. A perda de identidade, linguagem e tradição indígenas precisa ser entendida como parte da violência colonial e o apagamento da memória indígena causada por esta violência. E é importante não deixar que a imposição da cristianização e do capitalismo em territórios que foram indígenas apague nossa ancestralidade. Permitir isso é entregar outra dimensão de nossa existência ao projeto colonial: a nossa memória.
O Brasil está cheio de descendentes indígenas que perderam completamente o vínculo com sua ancestralidade. A retomada étnica tem a ver com o reconhecimento desse vínculo e é uma recusa ao apagamento da memória. É entender que temos uma memória mais longa, mais rica e mais profunda do que aquela imposta pela colonização. Nossa história, nós que também tivemos ancestrais indígenas, também não começa 525 anos atrás. Ela tem mais de 10 mil anos e sofre uma violência brutal há 525 anos. Precisamos responder a essa violência coletivamente. A retomada étnica só faz sentido enquanto posição política e projeto social e ecológico coletivos. Além disso, sem ligação com as retomadas territoriais pelos povos indígenas, a retomada étnica corre o risco de perder sua radicalidade política e se tornar um projeto sem materialidade que o sustente.
Indígena é aquele que é da terra; em oposição ao alienígena que vem de fora. Povo sem terra é o que o capitalismo criou, dispersando populações inteiras ao redor do mundo. O apagamento da memória indígena também tem a ver com a desterritorialização capitalista que, sem se separar da colonização, rompe com tradições que lhe precedem. Quando Marx escreveu na Ideologia Alemã que “tudo que é sólido se desmancha no ar”, ele estava pensando em como o processo de industrialização capitalista rompia com as formas sociais anteriores ligadas ao feudalismo. Porém, sabemos como o capitalismo sempre conviveu muito bem com a tradição cristã e aristocrática europeia.
Uma coisa importante a considerar aqui é como a compreensão antropológica da mestiçagem no Brasil foi orientada para o embranquecimento da população, como argumenta Denise Ferreira da Silva no capítulo dedicado ao Brasil (cap. 10) em seu livro Homo Modernus. Se reconhecer enquanto descendente indígena e recusar esse processo colonial de apagamento de nossa ancestralidade e memória indígena, também nos leva a questionar o apagamento de nossa relação com a terra, com alguma coletividade que a habita, com uma outra sociogênese e formação social que não a capitalista branca moderna e patriarcal que apaga todas as outras.
Quem é descendente indígena e se vê deslocado entre as categorias de identidade dispostas no mercado neoliberal e suas lógicas isoladoras, habita a contradição existente entre indigeneidade e modernidade, entre o ser indígena e o mundo moderno que se constitui enquanto negação dos mundos indígenas, mas que absorve as populações deserdadas de seu passado e distorcidas em sua composição. Em seu livro Seres Terra, Marisol de la Cadena encontra bons caminhos para pensar, por exemplo, a ambiguidade entre a identidade étnica e a identidade nacional, como a primeira excede essa última, mas também a habita. Acredito que em termos de compreensão social e política nas Américas do sul ao norte essa questão se coloca. É possível nos entendermos coletivamente para além da forma do Estado-nação que a modernidade colonial cunhou e que sempre foi governada pelos brancos? Esta mesma instituição que no Brasil funciona exterminando populações pretas nas periferias urbanas e atacando comunidades indígenas como no caso mencionado acima no território Pataxó ou como acontece com o povo Guarani-Kaiowá no estado do Mato Grosso do sul.
Eu sei que nos rios que eu cresci me banhando, na terra em que eu cresci brincando e aprendendo a cultivar com meu pai, meus ancestrais indígenas também se banharam, também pisaram e cultivaram o cacau que sustentou minha família por gerações. No meu povoado tem duas jaqueiras que, segundo meus tios mais velhos, foram plantadas pelo meu bisavô e seu irmão, dois homens indígenas. Nós crescemos comendo delas e elas ainda estão lá. Porém, isso não sugere que sejamos indígenas.
Em certa antropologia contemporânea, como aquela feita por antropólogos como Tânia Stolze Lima, Bruce Albert ou Eduardo Viveiros de Castro entre os povos amazônicos ou como Marisol de la Cadena fez entre os povos andinos no Peru, entende-se que os sistemas de parentesco que compõem uma comunidade extrapolam a descendência genética e se estendem aos seres não-humanos que também compõem aquele coletivo. Para além de decidir e classificar a identidade de quem quer que seja – o que sempre acaba por essencializar alguma outra identidade que serve de parâmetro de comparação e analogia da autenticidade –, reconhecer que um rio, uma árvore ou um animal compõem a nossa memória afetiva e os laços que nos ligam a um coletivo e lugar é também parte de uma compreensão de que esses outros seres também fazem parte do que chamamos de comunidade. Por outro lado, o que seria de Londres sem o rio Thames ou sem as árvores de carvalho? É uma pergunta simples, mas que já estende o conceito de sociedade a outros seres. Pois então, o lugar onde eu cresci jamais seria o lugar onde eu cresci sem o cacau, sem as jaqueiras, o jabuticaba, o papa capim, o azulão, o jequitibá e os rios nos quais cresci mergulhando.
O raciocínio negativo que se segue de forma tão imediata quando a identidade indígena é sugerida é o que orientou boa parte das minhas reflexões. Por que não podemos mais beber das águas de nossos devires ancestrais? Por que devemos escolher só o lado que se impôs diante do apagamento de nossa memória ancestral? E uma pergunta talvez até cruel: do que importa agora reclamar este passado?
Quando falamos de ancestralidade indígena, isso parece ter pouco sentido econômico e cultural num contexto que foi profundamente moldado pela igreja e pela modernização capitalista e onde a terra já se tornou propriedade privada e meio de produção do qual ninguém quer abrir mão. E daí quem são nossos ancestrais? O que isso muda? Conclui-se rápido que não podemos voltar a nos dizer indígenas e viver conforme certa imagem estereotipada de algo que parece remeter a um tempo passado, fora da história oficial e que realmente conta, que é a do Estado, do capitalismo e do mundo europeu colonial.
No entanto, crescendo numa comunidade rural do interior do nordeste, quando migramos para a cidade e para os centros econômicos do Brasil, como no sudeste, rapidamente é ativado em nós o estigma que interiorizamos por não sermos urbanos, modernizados e brancos. Carregamos em nosso corpo esse tempo ancestral como uma marca negativa. Isso não é apenas sobre os aspectos físicos do corpo, mas também diz sobre um corpo produzido por universos simbólicos e ecológicos diversos daqueles das metrópoles e sua cultura modernizada, para não dizer europeia ou americana. Paralelo a isso, aprendemos a amar as formas brancas e modernas em que nunca conseguimos nos encaixar muito bem.
Claro, inventamos nossa própria modernização e artistas como João Gomes mostram isso. Mas, o que importa nisso tudo é que reencontrar nossa ancestralidade pode ser um primeiro passo para afirmar a possibilidade de outros modos de existência enquanto povo e coletividade. É entender que o capitalismo cobre um período muito curto e recente numa história muito mais longa em que vários outros modos de ser sociedade eram possíveis. Reconhecer nossa herança indígena é também entender que partilhamos de uma história coletiva que nos liga a um território e aos povos indígenas que resistiram ser apagados do tempo e do espaço. É um motivo a mais para colaborar com a luta desses povos e interromper essa história de violência que apaga nossa própria memória. E sem memória, ficamos desorientados sobre o futuro. E eis aí o ponto mais importante: o futuro da humanidade, guiado por essa história feita pelo Estado e o capitalismo sob comando dos brancos, não é nada promissor. Os modos de vida individualistas criados pela modernização capitalista criam cada vez mais um inferno onde o nosso próximo se torna uma ameaça e a terra e o planeta não nos suportam mais.
A cultura consumista contemporânea é adubada com uma constante insatisfação, culpa e frustração por não conseguirmos obter o que é uma ilusão e isso nos torna incapazes de sentir nosso próprio corpo e escutar nossas próprias necessidades. A maior parte das coisas que somos ensinados a desejar, cuja realização é posta como um ideal de sucesso e o contrário um motivo de frustração, muitas vezes não é o que realmente gostamos de fato e que nos causa essa boa sensação de encontro e satisfação com algo que compõe com o que somos e nos faz querer estar neste mundo. Este sofrimento aflige ainda mais profundamente os corpos que não foram inscritos nas normas de poder e códigos sociais que governam o mundo e distribuem desigualmente e hierarquicamente os corpos: as normas brancas modernas cisheteropatriarcais. Essa cultura tenta homogeneizar e empacotar em padrões monoculturais a diversidade que a vida é, tornando impossível as tantas soluções e adaptações que os seres viventes criam para ser o que são e cujas possibilidades são infinitas.
No ano passado, 76 pessoas morreram por síndrome respiratória aguda em São Paulo, que foi noticiada como a cidade com maior poluição do ar no mesmo dia. O modo de produzir e viver baseado na extração irrestrita da natureza e queima de combustíveis fósseis é uma forma de violência, que embora não seja diretamente direcionada contra nosso corpo, é diretamente direcionado ao ambiente onde nosso corpo vive. Embora considerando o uso de agrotóxicos aplicados em plantações de monocultura do agronegócio ou a poluição do ar e das águas por parte de indústrias, essas formas de degradação e intoxicação do ambiente onde nós vivemos irá afetar, sim, o nosso corpo diretamente.
Em outros lugares pessoas estão morrendo por calor, enchente, furacões. As mudanças climáticas causam isso e têm causas identificadas, sobretudo a emissão de gases por causa da queima de combustíveis fósseis e florestas. Petroleiras, mineradoras, agronegócio, estão entre os principais responsáveis de tudo isso, seja dentro ou fora do Brasil. Para manter essas metrópoles funcionando, precisa de energia, matéria prima para construção, alimentos e combustíveis fósseis para alimentar a multidão de trabalhadores e transportá-los de casa para o trabalho, do trabalho para o shopping, para retornar o dinheiro que produziu às grandes empresas que os exploram. Toda a matéria física e energética que move esse ciclo sai da terra. Terra onde vive gente que quer viver da terra, como os povos indígenas.
Procure por uma imagem panorâmica de uma metrópole como São Paulo, Nova Iorque, Londres, Pequim, Nova Delhi, ou qualquer outra. Você vai ver o resultado desse processo de produção e reprodução da vida no capitalismo, que chamam de desenvolvimento, mas é um processo intensivo de extração da matéria que compõe o planeta. Tal processo sempre envolveu o genocídio indígena e exploração do trabalho negro. Agora veja quem mais se beneficia disso tudo. Quem são as pessoas mais ricas e que vivem melhor nessas cidades? Quem são os donos das empresas e propriedades? As respostas revelam estatísticas profundamente desiguais, que são visíveis nos ambientes ao nosso redor em nossa experiência cotidiana. Embora sejam as pessoas mais pobres, negras e indígenas as que são mais afetadas negativamente por tudo isso, o agravamento das mudanças climáticas não deixará ninguém isento. Não é apenas a alma que estamos perdendo. É o mundo onde outras almas viveriam. O capitalismo é também uma violência futura gerada pelo acúmulo de violências passadas.
Mas, e daí, que importa se nossos ancestrais são indígenas?
Pois os indígenas souberam deixar para nós uma terra onde a diversidade e heterogeneidade da vida eram abundantes e se esparramavam nas muitas línguas, manifestações culturais, formas simbólicas e políticas, na variedade imensa de espécies de frutos e formas de vida. Os povos indígenas são “povos da megadiversidade”, como disse Manuela Carneiro da Cunha. Esta terra ainda nos sustenta, mesmo que tão depredada e maltratada, e não é um mundo de abundância de possibilidades o que estamos deixando para os nossos futuros descendentes. Recuperar nossa memória ancestral é recuperar uma fonte de aprendizado sobre como viver coletivamente e como partilhar nossa existência comum nessa terra. Resistir que nossa memória seja apagada é recusar que aquele futuro hostil seja nosso único futuro possível. A imaginação pode ter muitos outros caminhos possíveis, mas temos ainda perto de nós os registros e narrativas de povos que sabiam viver de outra forma, existem há mais de dez mil anos e há séculos recusam a receita de como ser sociedade ditada pela modernidade ocidental e colonial.
Estamos vivendo um contexto de ressaca da globalização, que como escreveu Achille Mbembe em livros mais recentes como o Brutalismo, as sociedades, principalmente as ocidentais, têm uma tendência de endogamia e de se fechar em si mesmas. Aos poucos, aquilo que chamamos de Ocidente e que teve as formas culturais, econômicas, sexuais, filosóficas e jurídicas moldadas sobretudo por influências europeias e americanas, vai perdendo sua hegemonia e vai deixando de ser a única referência e influência. Em diversos lugares as pessoas buscam reencontrar formas perdidas de suas identidades. No momento em que escrevo, estou na Polônia, onde encontrei grupos de jovens que se divertem dançando músicas tradicionais polonesas e buscam reencontrar raízes culturais que a modernização/globalização relegaram ao esquecimento num mundo homogeneizado pelo mercado neoliberal. Paralelo a isto, vivemos transformações planetárias com as mudanças climáticas que colocam os diversos povos espalhados sobre o planeta numa condição partilhada involuntariamente. As causas e consequências das mudanças climáticas desconhecem fronteiras. No meio de tudo isso, a busca pela nossa ancestralidade indígena corre o risco também de ser levada por tendências endogâmicas e exclusivistas. Mas esta memória pode também nos reorientar coletivamente, nos fazer repensar nossos modos de habitar o planeta, nos reeducar o olhar sobre nós mesmos e sobre o outro e quem sabe com isto podemos reaprender a pisar mais leve sobre a terra.
Indígenas são aqueles que não esqueceram que estão emaranhados a terra e a este planeta. São aqueles que depois que o planeta forçar da pior forma todo humano a enxergar essa condição, vão reexistir. Todos nós, inclusive os brancos, ocidentais, europeus, viemos de algum povo indígena, de algum povo que pertencia a terra. Há de se relembrar e de fazer dessa condição não um exclusivismo reacionário de sangue e solo, mas um modo de convivência planetária que permita a vida florescer de muitas maneiras.
- Renan Porto é escritor e pesquisador interdisciplinar. É doutor em direito pela Universidade de Westminster na Inglaterra e atualmente é professor assistente no Instituto de Estudos Literários da Universidade de Silésia na Polônia. É autor dos livros Políticas de Riobaldo (Cepe, 2021) e O Cólera A Febre (Urutau, 2018).
↩︎