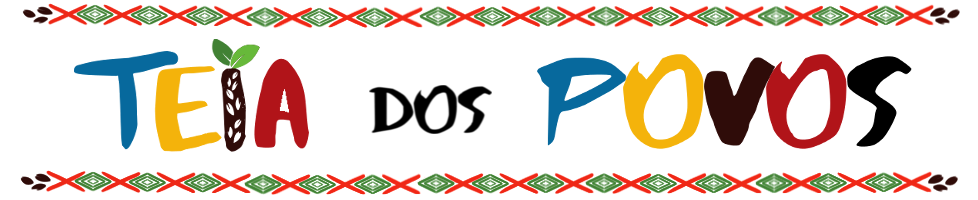Por Paulo Dimas Rocha de Menezes1 e Joelson Ferreira de Oliveira2
A tradição dos oprimidos nos ensina que o “estado de exceção”
em que vivemos é na verdade a regra geral. Precisamos construir
um conceito de história que corresponda a essa verdade. Nesse
momento, perceberemos que nossa tarefa é originar um
verdadeiro estado de exceção; com isso, nossa posição ficará
mais forte na luta contra o fascismo.Walter Benjamin (1994, p. 226)
ABERTURA — CONTEXTO
A relação entre comida e direito é imanente ao conceito de autonomia, que, por sua vez se vincula, politicamente, à reflexão sobre liberdade e soberania. Não é possível abordar a questão do direito à autonomia dos povos indígenas e comunidades tradicionais — ou “povos indígenas e tribais”, na forma utilizada pela Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho (BRASIL, 2004) — sem tratar simultaneamente da questão da soberania alimentar, tal como adotada por movimentos populares e camponeses. Por outro lado, a vinculação teórica entre as ideias de autonomia, soberania e povo não se apresenta de forma tão consistente no pensamento ocidental quanto se manifesta na práxis de vários povos e movimentos sociais na chamada América Latina.
Neste texto não pretendemos elaborar uma revisão extensa destes conceitos, mas demonstrar a existência de uma ponte conceitual possível entre estas ideias e uma práxis, proposta pela Teia dos Povos: a caminhada para retomada, requalificação e defesa de parte das terras e territórios ocupados por colonizadores e seus descendentes no continente a que nomearam América3. Esta requalificação se baseia nas práticas de uma agroecologia popular, através do resgate de saberes tradicionais enxertados pelos conhecimentos científicos que venham a se comprometer com estas lutas.
A Teia dos Povos é uma articulação de povos originários, comunidades tradicionais, organizações e grupos territorializados. A estes núcleos de base, componentes principais da Teia, se conectam os elos — coletivos, organizações e pessoas desterritorializadas — que participam como articuladores e apoiadores, mas não como lideranças da articulação, pois “[…] quem já organizou seu território é que pode dirigir quem ainda não se organizou. É do território que emergem as lideranças capazes de organizar nossos povos.” (FERREIRA e FELÍCIO, 2021, p. 34-35).
A conjuntura na qual a Teia dos Povos foi criada, se não difere das que constituem a regra na geografia-história do continente, traz um perigo novo para todas as humanidades. O avanço do fascismo social, que intenta perenizar tanto a linha abissal entre os mundos da regulação/emancipação e da apropriação/violência (SANTOS, 2007) quanto o estado de exceção como estrutura permanente da democracia no ocidente (AGAMBEN, 2004), amplia os efeitos de uma nova crise do capitalismo. A novidade pode ser o caráter terminal desta crise, ante um possível colapso sistêmico — climático-ambiental, econômico-financeiro e político-social — que coloca em risco, não apenas o modo ocidental de habitar o mundo, mas todos os mundos alternativos que ainda resistem ao modelo hegemônico orientado pelo (e para o) Norte global.
No âmbito regional, a derrota política de governos de centro-esquerda e a ascensão de governos de direita e extrema direita, no Brasil e países vizinhos, por vias eleitorais associadas ou não a golpes institucionais, demonstrou a existência de uma parcela considerável da sociedade neste continente que apoia explicitamente a continuidade dos processos de expropriação e violência colonial do estado nacional contra a maioria de seus povos, para não dizer a maioria de sua própria população. Tão ou mais grave é a percepção de que governos nacionais e regionais de centro-esquerda no Brasil já adotavam — e adotam — uma agenda semelhante, na qual acordos políticos com setores do agronegócio, mineração e turismo, aliados à violência policial e de milicias privadas, mantém forte pressão sobre territórios originários, enquanto avança contra populações vulneráveis no meio rural e periferias urbanas, dirigindo esta violência especialmente contra jovens negros e lideranças indígenas.4
É neste contexto espaço-temporal adverso que a Teia dos Povos se prepara para outra retomada: a reconstrução da tradição revolucionária da aliança preta, indígena e popular na luta anticolonial pela autonomia dos povos deste lado do mundo, contra a imposição violenta de nacionalidades únicas que ainda avançam perigosamente por sobre os corpos dos antepassados e parentes daqueles que hoje redesenham esta aliança.
O perigo ameaça tanto a existência da tradição como os que a recebem. Para ambos, o perigo é o mesmo: entregar-se às classes dominantes, como seu instrumento. Em cada época, é preciso arrancar a tradição ao conformismo, que quer apoderar-se dela. […] O dom de despertar no passado as centelhas da esperança é privilégio exclusivo do historiador convencido de que também os mortos não estarão em segurança se o inimigo vencer. E esse inimigo não tem cessado de vencer. (BENJAMIN, 1994, p. 224-225).
Diante da ameaça do fascismo (e do conformismo), a necessidade de autodefesa se impõe como prioridade para as organizações e comunidades territorializadas da Teia. Esta visão, entretanto, não se baseia na criação de estruturas físicas de defesa e grupos armados. Antes, trata-se de construir as condições de viabilidade para autonomia destes povos e comunidades, a partir de ações que promovam diferentes soberanias, na qual a soberania alimentar cumpre um papel axial.5 Antes de prosseguir na explicitação deste rumo, propomos uma reflexão inicial para determinar alguns dos conceitos centrais que servirão para iluminar esta caminhada.
POVOS — AUTONOMIA E SOBERANIA
A ambiguidade do conceito de povo está na origem do pensamento político do ocidente. A leitura que Jacques Rancière faz de Platão e Aristóteles, no nascimento da filosofia política — contra a política, segundo o autor — identifica, na base da democracia, uma incongruência original no conceito de demos (povo) que tenderia a se manter com um duplo significado na história do ocidente. Demos significaria, ao mesmo tempo, aqueles que, no regime democrático, têm direitos iguais à liberdade e aqueles que, destituídos de bens, riquezas ou quaisquer outras qualidades que não seja a própria igualdade, continuariam sendo “desiguais” por definição6. Este “dano fundamental”, gerador do desentendimento original, seria o fundamento da política e da democracia. A mesma ambiguidade vai ser assinalada por Giorgio Agamben ao verificar o significado de “povo” nas diversas vertentes linguísticas da europa:
Toda interpretação do significado do termo “povo” deve partir do fato singular de que, nas línguas europeias modernas, ele sempre indica também as pobres, os deserdados, os excluídos. Um mesmo termo denomina, assim, tanto o sujeito político constitutivo quanto a classe que, de fato, se não de direito, é excluída da política. O italiano popolo, o francês peuple, o espanhol pueblo (assim como os adjetivos correspondentes “popolare”, “populaire”, “popular” e o latim tardio populus e popularis, de que todos derivam) designam, tanto na língua comum como no léxico político seja o complexo dos cidadãos como corpo político unitário (como em “popolo italiano” ou em “giudice popolare”), seja os pertencentes as classes inferiores (como em homme du peuple, rione popalare, front populaire). Até mesmo o inglês people, que tem um sentido mais indiferenciado, conserva, porém, o significado de ordinary people em oposição aos ricos e à nobreza. (AGAMBEN, 2002, p. 183)
Ora, esta ambiguidade, que a princípio parece possuir um caráter universal (porque europeu), não faz nenhum sentido fora da noção de desigualdade, também imposta aos demais povos do mundo, como se tratasse de uma maldição incontornável da única condição humana possível. É de se supor, portanto, que não faça nenhum sentido para povos originários que, tendo conhecido regimes de desigualdade, mesmo antes da conquista europeia, optaram por refutá-los através de mecanismos que impediam o surgimento da autoridade política, isto é, do soberano e da organização que o sustenta e é por ele representado, o estado (CLASTRES, 2003). Um exemplo deste estranhamento foi registrado por Michel de Montaigne, ainda em 1562, na ocasião da visita de indígenas Tupinambá à corte de Carlos IX, na Normandia.
Três dentre eles […] foram a Rouen no tempo em que o falecido rei Carlos IX lá estava. […] alguém perguntou-lhes sua opinião, e quis saber deles o que haviam achado de mais admirável […]. Disseram […] (eles tem um tal jeito de linguagem que chamam os homens de “metade” uns dos outros) que haviam percebido que existiam entre nós homens repletos e empanturrados de toda espécie de regalias, e que suas metades estavam mendigando-lhes nas portas, descarnados de fome e pobreza; e achavam estranho como essas metades […] podiam suportar tal injustiça sem agarrar os outros pelo pescoço ou atear fogo em suas casas. (MONTAIGNE, 2000, p. 319-320)
De repente, aflorava ali a diferença política dessas sociedades em relação às europeias: a ausência da função de mando, da sujeição de todos a um poder supremo e à violência da desigualdade, da pobreza e da fome. Da mesma forma parece não fazer sentido, para sociedades submissas a um soberano, a existência de regimes de liberdade, em que a necessidade de uma estrutura externa e superior às comunidades, responsável pela criação de normas de procedimento coletivo e individual, não se faz presente.
[…] somos sociedades que naturalmente nos organizamos de uma maneira contra o Estado. […] não tem nenhuma ideologia nisso, somos contra naturalmente, assim como o vento vai fazendo o caminho dele, assim como a água do rio faz o seu caminho, nós naturalmente fazemos um caminho que não afirma essas instituições como fundamentais para a nossa saúde, educação e felicidade. (KRENAK, 1999, p. 30)
Ailton Krenak, por ocasião dos quinhentos anos da invasão européia para invenção do Brasil, refletindo sobre o choque dos mundos, nos chamava a atenção para a necessidade de se escrever um novo roteiro desse encontro, em que o reconhecimento da diversidade das culturas deveria ser acompanhado “[…] principalmente [pela] educação para a liberdade.” (KRENAK, 199, p. 28). O espanto com a ausência de igualdade e de liberdade nas sociedades estruturadas ao modo europeu se mantém vivo na contemporaneidade, sendo proporcional àquele dos herdeiros de europeus frente à liberdade com que conduzem a vida os povos indígenas, desde a infância.
A observação deste choque nos leva a perceber a distância abissal entre a ideia de autonomia, essencialmente vinculada a uma ideia de liberdade coletiva, plenamente compreensível para diversos povos em diversos mundos, e a estrutura regulatória do atual sistema jurídico internacional, baseada na ideia de soberania e na divisão do planeta em países soberanos. Não será difícil, portanto, compreender a indeterminação ou ausência do conceito de autonomia no direito internacional.
“Autonomia” não é um termo técnico no direito internacional ou constitucional. [… A] autonomia pessoal e política é, em certo sentido, o direito de ser diferente e de ser deixado em paz, para preservar, proteger e promover valores que estão além do alcance legítimo do resto da sociedade.7
(HANNUM, 1996, p. 4)
A definição de uma autonomia que se assenta no direito individual à diferença e à privacidade não é estranha ao sistema político e jurídico do ocidente. Entretanto, a tentativa de aplicação a coletivos, comunidades e outros povos, que se reconhecem desta forma mesmo, esbarra nas fronteiras do conceito de soberania estritamente vinculado à noção de Estado Nacional. Fora desta configuração teremos, supostamente, uma relação de dependência daquelas comunidades que pleiteiam autonomia de fato em relação àqueles que se apresentam como únicos capazes de exercê-la por direito.
Artigo 1. O Estado como pessoa de Direito Internacional deve reunir os seguintes requisitos: I. População permanente. II. Território determinado. III. Govêrno. IV. Capacidade de entrar em relações com os demais Estados.
Artigo 2. O Estado federal constitui uma só pessoa ante o Direito Internacional. […]
Artigo 9. A jurisdição dos Estados, dentro dos limites do território nacional, aplica-se a todos os habitantes. Os nacionais e estrangeiros encontram-se sob a mesma proteção da legislação e das autoridades nacionais e os estrangeiros não poderão pretender direitos diferentes, nem mais extensos que os dos nacionais. (BRASIL, 1937, Convenção de Montevidéu)
A Convenção de Montevidéu, por ocasião da Sétima Conferência Internacional Americana da então União Panamericana, na década de 1930, terminou por riscar do mapa todos os povos e nações existentes no continente para consolidar a organização colonial e as fronteiras do estado nacional como único sujeito legítimo do direito coletivo à autonomia. Com o apagamento cultural e o não reconhecimento da própria existência, povos originários que se consideram autônomos passam a se situar no limbo da lei, não sendo nem nacionais ou estrangeiros, a não ser que renunciem a suas identidades e optem pela redução forçada a uma única nação, herdeira da metrópole colonial, a mesma que mantém a ocupação e expropriação de seus territórios.
Cerca de 8 décadas antes, através da a Lei de Terras de 1850, o estado brasileiro, se apossara dos territórios indígenas e das terras comuns, ocupadas por comunidades autônomas — hoje definidas como quilombolas e comunidades tradicionais — passando a considerá-las “terras devolutas do Império” (BRASIL, 1850). Ao determinar a validade exclusiva de títulos privados comprados ao estado, o então império brasileiro impediu, na prática, o acesso legalizado à terra ainda ocupada pela maioria dos habitantes, descendente dos indígenas e africanos escravizados. Ao mesmo tempo incentivava migrações de colonos europeus, com acesso facilitado a estas terras, a quem o estado repassava a responsabilidade da guerra aos nativos e comunidades livres.
Se na constituição brasileira da redemocratização (BRASIL, 1988) houve reconhecimento do direito originário à ocupação de territórios tradicionais na forma jurídica de Terras Indígenas, (permanecendo a titularidade da propriedade nas mãos do estado, como já definida na constituição da ditadura militar de 1967), a não utilização dos termos território, povos ou nações é intencional, como demonstram as palavras do ministro Carlos Ayres Britto, do Supremo Tribunal Federal do Brasil, em seu voto relativo à demarcação da Terra Indígena Raposa do Sol, em 2009.
[…] se trata de uma diferenciação fundamental — essa entre terras indígenas e território —, pois somente o território é que se põe como o preciso âmbito espacial de incidência de uma dada Ordem Jurídica soberana, ou, então, autônoma […,] lócus por excelência das primárias relações entre governantes e governados, que são relações de natureza política. […] Já o substantivo “terras” […] é termo que assume compostura nitidamente sócio-cultural. Não política. [… O] certo é que tais grupamentos não formam […] instância espacial que se orne de dimensão política. (BRASIL, 2009, p. 277-278)
A desconsideração do caráter político da organização de povos originários e comunidades tradicionais retira, em tese, toda possibilidade jurídica de autonomia coletiva, ou de uma ordem jurídica soberana, nas palavras do ministro. Entretanto estes povos e comunidades, que não admitem ser governados por outros em seus próprios territórios (quando não a própria existência de governantes e governados), continuam a praticar sua autonomia de fato, o que não deixa de ser um paradoxo — perigoso e violento. A violência ressurge na forma da guerra permanente de colonos contra colonizados, caracterizados como “conflitos étnicos”, no contexto de uma etnopolítica (FERREIRA, 2017), ou política étnica (HANNUM, 1996).8
A persistência do paradoxo da existência de povos autônomos sem estado no interior de estados soberanos, bem como da violência decorrente, justifica a tentativa de uma solução pacificadora no direito internacional, tal como a encontramos na Convenção 169 da OIT – Organização Internacional do Trabalho, sobre povos indígenas e tribais, adotada em Genebra em 1989 e promulgada no Brasil em 2004.
Reconhecendo as aspirações desses povos a assumir o controle de suas próprias instituições e formas de vida […] dentro do âmbito dos Estados onde moram; […] 1. A presente convenção aplica-se: a) aos povos tribais em países independentes, cujas condições sociais, culturais e econômicas os distingam de outros setores da coletividade nacional, e que estejam regidos, total ou parcialmente, por seus próprios costumes ou tradições […] b) aos povos em países independentes, considerados indígenas pelo fato de descenderem de populações que habitavam o país […] na época da conquista ou da colonização ou do estabelecimento das atuais fronteiras estatais e que […] conservam todas as suas próprias instituições sociais, econômicas, culturais e políticas, ou parte delas. (BRASIL, 2004, Artigo 1°)
A caracterização como tribais dos povos sem estado, coerente com o qualificador étnico, não consegue esconder sua origem na matriz colonial. Se o direito internacional, através da Convenção 169 da OIT concede a povos em conflito com interesses do estado o direito à consulta prévia, livre e informada, tal direito não é capaz de conter a invasão dos territórios originários, a continuidade de uma guerra colonial não declarada e tampouco serve para superar o paradoxo da autonomia dos povos em conflito com a soberania do estado, mantendo clara a estrutura da submissão jurídica: “A utilização do termo “povos” na presente Convenção não deverá ser interpretada no sentido de ter implicação alguma no que se refere aos direitos que possam ser conferidos a esse termo no direito internacional.” (BRASIL, 2004, Artigo 1°)
A própria ideia de soberania das nações traz uma indeterminação, se não um vício de origem, por indefinição de seu sentido mesmo. Compreende-se que o estado é soberano perante os demais, por não reconhecer nenhum poder acima de si, mas aqui o sentido de soberania se confunde com o de autonomia, conceito que se explicita pela própria etimologia: a capacidade de regular a si mesmo, de formular suas leis… Mas não é disso que trata a soberania. Nas teorias clássicas a ela se vincula, em um território determinado, a um indivíduo, grupo ou classe que exerce o poder supremo, acima do qual não existe nenhum outro. Daí a necessidade de determinação deste termo, do sujeito deste poder, o soberano. Neste sentido, Giorgio Agamben nos apresenta uma definição preciosa, retirada da leitura de Carl Schmitt, na forma de um paradoxo:
O paradoxo da soberania se enuncia: “O soberano está, ao mesmo tempo, dentro e fora do ordenamento jurídico”. Se o soberano é, de fato, aquele no qual o ordenamento jurídico reconhece o poder de proclamar o estado de exceção e de suspender […] a validade do ordenamento, então […] o soberano[…] coloca-se legalmente fora da lei. (AGAMBEN, 2002, p. 23)
A violência contínua e a guerra colonial permanente contra povos indígenas, o povo preto e seus descendentes permite a interpretação de que sempre viveram nesse estado de sítio — que o autor prevê como regra a se expandir para todos os cidadãos do ocidente, incluindo desta vez os descendentes de colonos. Neste caso, cabe aqui a pergunta: quem é este soberano fora da lei, que decreta a suspensão da lei para a maior parte dos habitantes de um país colonizado? O direito constitucional moderno dirá que é o povo,7 mas quem é o soberano de fato, escondido por trás do conceito jurídico? E qual ou quais dispositivos de legitimidade utiliza para fazer valer sua soberania de fato? Quando um texto de uma organização fundada em Oxford afirma que “[…] o patrimônio de apenas oito homens é igual ao da metade mais pobre do mundo […]”, e demanda a construção de uma economia para 99% da população mundial (OXFAM, 2017), identificamos uma tendência de percepção: a de vivermos em uma plutocracia global, tendo a casta dos bilionários assumido a posição do soberano — os nossos senhores.
Sobre a questão da legitimidade, encontramos na reflexão de Michel de Foucault, na passagem do “poder jurídico-soberano” para o biopoder, uma tese plausível. O autor constata que, nas teorias clássicas, a soberania não trataria de um direito pleno sobre a vida e a morte dos súditos, mas de um “direito à espada”, isto é, o de determinar apenas a morte dos súditos: “[…] é porque o soberano pode matar que ele exerce seu direito à vida. […] É o direito de fazer morrer ou de deixar viver […]”, e passagem do poder soberano clássico ao biopoder moderno se daria através de “[…] uma espécie de estatização do biológico.” (FOUCAULT, 2000, p. 286-287). Chama atenção o dispositivo pelo qual esta passagem se realiza.
Foi nesse momento que o racismo se inseriu como mecanismo fundamental do poder, tal como se exerce nos Estados modernos, e que faz com que quase não haja funcionamento moderno do Estado que, em certo momento, em certo limite e em certas condições, não passe pelo racismo. Com efeito, que é o racismo? É, primeiro, o meio de introduzir […] um corte: o corte entre o que deve viver e o que deve morrer. […] De outro lado, o racismo terá sua segunda função: terá como papel permitir uma relação […] do tipo: […] “quanto mais você deixar morrer, mais, por isso mesmo, você viverá”. Eu diria que essa relação (“se você quer viver, é preciso que você faça morrer, é preciso que você possa matar”) afinal não foi o racismo, nem o Estado moderno, que inventou. É a relação guerreira: “para viver, é preciso que você massacre seus inimigos. (FOUCAULT, 2000, p. 304-305)
Aqui encontramos o fundamento último da guerra que se trava entre os estados nacionais modernaos, herdeiros das metrópoles coloniais, e os povos e nações autônomas que existem e resistem no interior de suas fronteiras, determinadas em total desconsideração das existências originárias. Não é diferente do fundamento do direito internacional que não admite a existência plena desses povos, para além de sua diversidade cultural, por não reconhecerem sua personalidade política. A guerra colonial continuada, perpetrada pelos estados soberanos, encontra sua justificativa oculta em uma vontade de extermínio, em total coerência com o direito soberano de matar.
A função assassina do Estado só pode ser assegurada, desde que o Estado funcione no modo do biopoder, pelo racismo. Vocês compreendem, em consequência, […] a importância vital do racismo no exercício de um poder assim: é a condição para que se possa exercer o direito de matar. Se o poder de normalização [ou biopoder] quer exercer o velho direito soberano de matar, ele tem de passar pelo racismo. (FOUCAULT, 2000, p. 306)
A CAMINHADA PARA A AUTONOMIA: SOBERANIAS
O passado traz consigo um índice misterioso, que o impele à redenção. Pois não somos tocados por um sopro do ar que foi respirado antes? Não existem, nas vozes que escutamos, ecos de vozes que emudeceram? […] Se é assim, existe um encontro secreto, marcado entre as gerações precedentes e a nossa. Alguém na terra está a nossa espera. Nesse caso, como a cada geração, foi-nos concedida uma frágil força messiânica, para a qual o passado dirige um apelo. Esse apelo não pode ser rejeitado impunemente. (BENJAMIN, 1994, p. 223)
As comunidades, grupos e territórios aliados na Teia dos Povos sabem que estão em guerra, sabem que o racismo é seu fundamento, sabem que o direito e as instituições estatais são aliados dos senhores na tentativa de extermínio. Não aceitar e resistir ao direito de matar do estado soberano é o único meio para garantia de sua existência no estado de exceção permanente. Esta consciência demandou a construção de seus próprios conceitos de soberania e autonomia, capazes do enfrentamento aos senhores também no campo das ideias. Tais conceitos não surgem do campo jurídico ou do debate político partidário, mas da própria materialidade da existência, das necessidades cotidianas, quando não da terra, dos seres e formas de vida que habitam os territórios originários. Tampouco passam pelas soluções advindas das teorias revolucionárias ou reformistas que pregam a tomada do estado ou a transformação de suas instituições.
A tarefa de destruir o capitalismo, o racismo e o patriarcado ainda está por se realizar. Nossa sociedade segue numa violenta crise capitalista cada dia mais excluindo os povos da possibilidade de viver, seja pela superexploração, seja porque agora atacam ainda mais os rios, florestas, serras e mares, nos tirando a vida em sua forma natureza. Não acreditamos mais na possibilidade de solucionar o problema dos povos, combater a miséria, a desigualdade e as violências por meio das engrenagens do Estado burguês. […] Estamos falando de povos que perderam seus rios para hidrelétricas, por mineradoras, por empreendimentos do agronegócio […]. Mas também estamos falando de povos […] sofrendo genocídio por armas de fogo nas periferias. Então, tomar o Estado pela via, pelas regras que os brancos burgueses criaram, não nos interessa. (FERREIRA e FELÍCIO, 2021, p. 29-30)
Esta consciência de guerra faz com que os povos da Teia identifiquem a terra e o território como o centro da disputa, o campo efetivo onde as principais batalhas estão sendo agora mesmo travadas. Em um processo reverso da colonização, a conquista e ocupação de terras é a primeira e mais importante luta dos povos, para retomada e conservação do mais importante dos meios de produção da vida, aquele capaz de garantir água, alimento e habitação para uma vida digna. Mas este passo é insuficiente se não for acompanhado por uma visão e ações “para além da cerca”.
Porque uma coisa é você viver num lote de 10 hectares de terra, outra coisa é você viver num território com matas, lajedos, rios, lagos etc. Quando pensamos em território, não estamos falando de um quadrado ou de uma demarcação com determinado aspecto. Estamos falando de um lugar cheio de símbolos de pertencimento alicerçados na abundância da vida. […] Então, não basta que alguém conceda terra como hoje fazem mediante distribuição de títulos individuais, que depois serão comprados pelo agronegócio, para depois essa terra se converter em máquina de destruição de vidas. O que queremos são territórios, lugares com vida, com comunidade, onde rios, matas, animais, poços, nascentes, tudo possa ser respeitado e cuidado. (FERREIRA e FELÍCIO, 2021, p. 43-44)
Se não vem das teorias revolucionárias e reformistas, a inspiração da Teia dos Povos vem de um tempo-lugar que conhecem de perto e de longe, de histórias repassadas entre gerações que, pelos corpos dos mais velhos e espiritualidades ancestrais, chegam ao presente, de experiências não consideradas com o devido valor na história hegemônica do ocidente. Esta desconsideração leva o debate acadêmico sobre teorias revolucionárias a partir do século XIX a não perceber, por exemplo, a importância da experiência revolucionária da Confederação de Palmares no sertão de Pernambuco e Alagoas (anterior à revolução haitiana), bem como a potência da aliança dos povos originários para a luta anticapitalista neste continente.
Palmares sobreviveu entre os séculos XVI e XVIII, por um total de 130 anos — uma experiência de resistência ao capitalismo mais longeva do que a União Soviética ou a China Popular. A ciência por trás desta longevidade, e de sua capacidade rebelde, está na aliança dos povos.9 A federação de quilombos que impôs por tantos anos derrotas às potências imperiais de sua época — Portugal e Holanda — era formada por pretos e indígenas, assim como por brancos pobres e marginalizados. A cultura material encontrada em Palmares pela arqueologia atesta que os povos indígenas da região de Alagoas e Pernambuco ensinaram àqueles pretos sua cerâmica, sua culinária, seu fabrico de instrumentos. Palmares era uma verdadeira federação dos de baixo, com registros de judeus e muçulmanos confederados. (FERREIRA e FELÍCIO, 2020)
A mesma aliança é hoje invocada como inspiração pelos herdeiros de alguns dos povos que ali lutaram séculos atrás. Palmares também é lembrada, na Teia dos Povos, como um modo possível de ocupação e gestão política-territorial — uma confederação sem estado — na qual cada território mantém sua autonomia quanto a normas e forma de organização. Este modelo de insurgência e organização política é semelhante ao proposto, neste século, pelo movimento Zapatista, do povo Maia (BASCHET, 2021), pelo Confederalismo Democrático, tal como proposto por Abdullah Öcalan (2015) para o povo curdo e povos vizinhos, ou “[…] do levante Minga, que reúne indígenas, pretos e campesinos na Colômbia […]” (FERREIRA E FELÍCIO, 2021, p. 136). Trata-se de experiências ancestrais, que confrontam a organização do estado capitalista com formas originárias de organização, que não abrem mão de seus modos de ver, sentir e viver seus mundos, compartilhados com os outros seres que ali habitam.
Somos filhas e filhos de povos que viviam em comunidades com a conexão espiritual com as plantas, lagos, marés… Então, seguimos uma tradição histórica no Brasil, que combate o latifúndio a partir de alianças comunitárias para tomar território. Estamos falando das alianças dos Tamoios a Canudos, passando pela experiência poderosíssima e longeva de Palmares. O princípio é, portanto, a terra, a luta por se manter nela, ou retornar para ela. O fim, nosso objetivo final, é o território descolonizado do capitalismo, do racismo e do patriarcado. Ou seja, a superação dessas formas de dominação violentas a que fomos submetidos até agora. O meio para […] obter essa vitória está nos próprios territórios, produzindo alimentos, nos dando autonomia, organizando as pessoas e protegendo a vida, pois, se não tomarmos os territórios agora, talvez não exista vida para disputar no futuro. (FERREIRA e FELÍCIO, 2021, p. 45)
Para estes povos, portanto, os sentidos da autonomia nascem da terra e se vinculam originalmente ao conceito de território, sendo este uma categoria espacial de vida plena, antes e mais que uma unidade espacial determinada principalmente pela política (SOUZA, 1995), sem deixar de sê-lo. Também é possível intuir que o conceito de soberano, tão caro às metrópoles coloniais, não encontra lugar confortável para se estabelecer no seio de povos que, historicamente, manifestam sua recusa a serem governados, que rejeitam a condição de súditos, através de práticas cotidianas de insubordinação, associadas a uma filosofia natural, como lembrou Ailton Krenak, de respeito à autonomia de cada aliado.
Para nós, a organização interna de cada movimento, povo, organização ou território é um debate que compete às pessoas que ali se organizam. Podemos falar de concepções e práticas que consideramos virtuosas, porém não queremos […] pautar o processo organizativo interno de quem anda conosco. Há que respeitar as diferenças que são ideológicas, de tradição de luta e, por vezes, de ancestralidade. Assim, um terreiro possui uma liderança referendada espiritualmente e não por uma assembleia. Há comunidades em que a linhagem ancestral tem mantido um predomínio nas lideranças. Outras definiram politicamente que o comando é de mulheres. Tem quem eleja a sua liderança, tem outros lugares onde são os mais velhos que definem isso. (FERREIRA e FELÍCIO, 2021, p. 37)
Assim, perante a inexistência interna de um sistema centralizado de poder e dominação que cumpra este papel, o soberano é visto antes como o inimigo na guerra, geralmente identificado na figura coletiva dos latifundiários — os senhores de terra — e seus aliados, as instituições do estado nacional. Daí surge espaço para o aparecimento de outro conceito de soberania, que parece cumprir um papel subalterno de vinculação ao conceito de autonomia, característico de uma estrutura federalista. Não se trata, da mesma forma, de um conceito absoluto e autossuficiente, mas condicionado por uma qualificação, como vimos surgir na categoria camponesa de soberania alimentar.
O conceito foi introduzido em 1996 pela Via Campesina, no contexto da Cúpula Mundial sobre a Alimentação (CMA) realizada em Roma pela FAO. O debate oficial girava em torno da noção de segurança alimentar, reafirmando-a como “o direito de toda pessoa a ter acesso a alimentos sadios e nutritivos, em consonância […] com o direito fundamental de não passar fome”. As organizações camponesas contrapuseram então ao conceito de segurança alimentar o de Soberania Alimentar. […] Assim, soberania significa que além de ter acesso aos alimentos, o povo, as populações de cada país, tem o direito de produzi-los. E será isso que lhes garantirá a soberania sobre suas existências. (STEDILE e CARVALHO, 2010, p. 151)
Encontramos a mesma intenção no conceito de soberania hídrica em documentos recentes de organizações camponesas, como no caso do MPA – Movimento dos Pequenos Agricultores do Brasil, que a define como uma necessidade de cada comunidade não apenas ao acesso à “[…] água de qualidade para o consumo humano, para a produção de alimentos saudáveis e agroecológicos, para a criação de animais [… e] desenvolvimento da agricultura familiar camponesa”, uma vez que vincula esta demanda “[…] a um processo mais amplo que requer desde a produção da água até o seu acesso e uso.” (OLIVEIRA, Erica Anne, 2021) Trata-se aqui de superar a condição de dependência para o acesso — casos da segurança alimentar e hídrica — para assumirem o controle da produção e distribuição — em outras palavras, como dispositivo de consolidação da autonomia dos territórios.
Avançando com o mesmo procedimento, a Teia dos Povos, além de adotar as duas anteriores, propõe uma ampliação deste dispositivo, ao propor outras soberanias e processos de caminhadas para uma transição autonômica, correspondente à transição agroecológica nestes territórios. Neste sentido, “caminhar para a soberania energética” pressupõe a construção de sistemas autônomos de produção de energia; “caminhar para a soberania pedagógica” prevê uma transformação da educação e de suas escolas; “caminhar para o trabalho e renda” aposta na construção de uma “economia própria”, anticapitalista; “construir uma política de cuidado com os nossos” para superar a violência interna nas famílias e comunidades; e “caminhar para a autodefesa”, de forma a garantir a permanência segura nos territórios retomados, ocupados e transformados. O reconhecimento do estado de guerra em curso e a constatação da autodefesa como requisito essencial da autonomia, entretanto, não pressupõe necessariamente a criação de um sistema de defesa armada nestes territórios.
Quando vamos ocupar uma terra e enfrentar o latifúndio, muita gente acha que o mais imprescindível é ter condições bélicas para fazer frente às armas dos jagunços. Isso não é verdade. A história de nossas lutas tem nos ensinado que o principal elemento num processo de ocupação é a quantidade de pessoas dispostas a resistir naquela terra. […] Com isso queremos explicar-lhes que as armas de fogo não são o aspecto central da autodefesa […], não são a nossa urgência. […] Por isso, sugerimos que as pessoas tirem da cabeça essa alienação de pensar a rebeldia a partir apenas da violência. Não é esse o caminho vitorioso. […] estamos falando da importância do camponês como sujeito revolucionário, mas também como aquele que pode controlar a produção de alimentos que chegam às mesas das grandes cidades. (FERRREIRA e FELÍCIO, 2021, p. 99-100)
A soberania alimentar — o controle sobre a produção e distribuição de alimentos nas terras conquistadas — se revela aqui o principal instrumento de ocupação, resistência e autodefesa dos territórios, o pilar central sem o qual o edifício da autonomia, composto por um conjunto de soberanias, não se sustenta. Mais que isso: junto com a soberania pedagógica — o processo de educação e reeducação dos indivíduos e coletivos para a construção rebelde de um mundo não capitalista — a soberania alimentar compõe o núcleo mesmo da estratégia revolucionária para a qual a Teia dirige o seu chamado ao demais Povos.
Para nós, é fundamental pensar a estratégia geral do campesinato no processo de luta. Ter maior gestão sobre a geração de alimentos é uma das grandes armas de defesa que devemos promover nesse processo. [… É] tendo muita comida que se consegue fazer ocupações e tomar o latifúndio. O tempo de conquista de uma terra é longevo e, nem sempre, é possível manter-se produzindo numa área ocupada, por conta das reintegrações de posse, das investidas militares ou paramilitares […], a perversão do sistema de justiça faz com que policiais destruam as roças que o povo construiu ali […]. Então a Teia precisa ter muita comida para garantir a defesa de cada ocupação de terra e para alimentar o povo que ainda não esteja produzindo em uma área de sua posse. Não ter comida na ocupação afasta as pessoas dessa terra e, quanto menos gente na terra, maior é a chance de tomada do latifúndio. (FERRREIRA e FELÍCIO, 2021, p. 102)
A CONCLUIR
A concepção de revolução chamada pela Teia do Povos se afasta das teorias e doutrinas revolucionárias que se fazem (ou faziam) presentes nos debates acadêmicos e político-partidários nos dois últimos séculos até hoje.10 Trata-se, antes, de um processo revolucionário de longo prazo, iniciado por gerações passadas, que renasce da terra, se funda nas sementes, nas águas, na produção de alimentos e se baseia na ação coletiva, nos cuidados com as pessoas, nas coisas simples e necessárias ensinadas pelos ancestrais e encantados destes povos, “[…] por meio da autonomia e da construção de territórios […]”:
Nossa jornada, nossa grande luta, é contra o racismo, o capitalismo e o patriarcado. Todos os nossos caminhos […] são para que triunfemos na derrota da branquitude colonial, das classes dominantes e da subjugação das mulheres pelos homens. […] O que chamamos de jornada é o devir mais amplo, o grande projeto […]. As caminhadas são as etapas necessárias para percorrer esta jornada. Há ainda os passos, que são as tarefas necessárias para lograr êxito em cada caminhada. A jornada é o esforço de manter em nosso horizonte que tudo que fazemos, fazemos para que triunfem os povos e se libertem das amarras raciais, do capital e do gênero. […] isso é o que chamaríamos de “estratégico” […]. Mas falamos jornada para que as pessoas entendam que, mesmo quando estamos fazendo um mutirão para dar manutenção numa agrofloresta, estamos lutando contra o capitalismo e o faremos de modo a avançarmos no combate ao racismo e ao machismo. Então, é isso: não se pode perder a dimensão de que há uma grande luta, uma revolução que trilhamos num ritmo muito próprio de nossos povos. (FERREIRA e FELÍCIO, 2021, p. 30-31)
Do ponto de vista do direito, é possível afirmar que a jornada revolucionária da Teia dos Povos se manifesta como um poder que é verbo: uma ação, transistórica e rebelde, que deixa de existir quando os sujeitos não agem, quando os povos não caminham — mas que retorna sempre que as vozes e apelos dos antepassados são ouvidos pelas gerações presentes. Este poder-verbo se torna constituinte quando declara o direito permanente à autonomia dos povos, expropriada pelos estados coloniais e pelo direito internacional colonialista, ao mesmo tempo em que se rebela contra o poder-substantivo — as instituições jurídicas, militares e paramilitares que os sustentam.
O poder-ação e o direito à autonomia autodeclarada não necessitam do soberano como princípio fundador, na figura de um novo senhor, garantidor de suas existências. A garantia vem, antes, das soberanias plurais — a soberania alimentar no centro do tabuleiro — como fins intermediários, submetidos ao princípio da terra-e-território e ao meio-e-fim da autonomia. Por isso não se propõe a tomada do estado ou a fundação de outro, mas a adoção da fórmula simples — e historicamente testada, neste e em outros continentes (OKALAM, 2015) — da confederação, tal como em Palmares. O desafio de construção desta aliança e união dos povos, mantendo a diversidade e a complexidade com que se manifestam, se traduz na mensagem final da Teia dos Povos em todos seus comunicados, chamados e convocações.
O que nos une é maior do que o que nos separa.
Paz entre nós, guerra aos senhores.
- Doutor pela UFMG – Universidade Federal de Minas Gerais, professor Adjunto da UFSB – Universidade Federal do Sul da Bahia, Grupo de Pesquisa Comunidades e(m) Autonomia (elo da Teia dos Povos) ↩︎
- (Doutor por Notório Saber pela UFMG, articulador da Teia dos Povos, membro da Coordenação do Assentamento Terra Vista/MST (núcleo de base da Teia dos Povos) ↩︎
- A Teia dos Povos foi criada em 2012, durante a primeira Jornada de Agroecologia da Bahia, realizada no Assentamento Terra Vista, do MST, no município de Arataca, Sul da Bahia. Com cerca de 2.000 pessoas, este encontro reuniu, pela primeira vez, camponeses em luta pela terra, membros dos três povos indígenas da região (Tupinambá, Pataxó e Pataxó Hãhãhãe), comunidades quilombolas e ribeirinhas, pescadores e pescadoras, povos de terreiro, mestres e mestras dos saberes tradicionais, organizações de periferias urbanas, educadores, estudantes e crianças. Desde então foram organizadas outras 5 Jornadas de Agroecologia, além de inúmeras pré-jornadas, encontros e mutirões. Hoje a Teia dos Povos extravasa as fronteiras da Bahia e se conecta com outros povos e iniciativas semelhantes em outros estados do Brasil e países vizinhos. Para maior informação sugerimos acesso ao sítio eletrônico e canal no Youtube: (https://teiadospovos.org/) (https://www.youtube.com/c/DI%C3%81LOGOSCOMOSPOVOS). ↩︎
- 2 Se na gestão do presidente Jair Bolsonaro garimpeiros e madeireiros têm passe livre de fato para invadir territórios indígenas, em 2013, sob o governo da presidenta Dilma Roussef, a Força Nacional de Segurança e o exército invadiram do território Tupinambá, sendo o Cacique Babau, principal liderança deste povo, mantido prisioneiro sem julgamento no ano seguinte (ALARCON. 2014). Também sob os governos “progressistas” do Maranhão e da Bahia, a violência do estado avança sobre jovens negros e povos indígenas. (ver ROS, 2020; e < https://teiadospovos.org/carta-de-solidariedade-da-teia-dos-povos-do-ceara-ao-povo-akroa-gamella/> acesso em 21/11/2021) ↩︎
- 3 Muitas das ideias abordadas neste texto foram registradas no livro-manifesto Por Terra e Território: caminhos da revolução dos povos no Brasil, de Joelson Ferreira e Erahsto Felício, editado pela Teia dos Povos em 2021. Algumas delas foram também construídas coletivamente (ou reveladas) nos encontros de núcleos e elos, bem como nas Jornadas de Agroecologia da Teia, tendo como referência o pensamento de mestres e mestras dos saberes tradicionais e populares, iluminados pelos encantados de seus povos. ↩︎
- “O demos atribui-se, como sua parcela própria, a igualdade que pertence a todos os cidadãos. E, com isso, essa parte que não é parte identifica sua propriedade imprópria com o princípio exclusivo da comunidade, e identifica seu nome — o nome da massa indistinta dos homens sem qualidade — com o nome da própria comunidade. Isso porque a liberdade — que é simplesmente a qualidade daqueles que não têm nenhuma outra (nem mérito, nem riqueza) — é ao mesmo tempo contada como a virtude comum. Ela permite ao demos — ou seja, o ajuntamento factual dos homens sem qualidade, desses homens que, como nos diz Aristóteles, ‘não tomavam parte em nada’ — identificar-se por homonímia com o todo da comunidade.” (RANCIÈRE, 1996, p. 24). ↩︎
- No original: “Autonomy” is not a term of art in international or constitutional law. […] Personal and political autonomy is in some real sense the right to be diferente and to be left alone; to preserve, protect and promote values which are beyond the legitimate reach of the rest of Society. (tradução do autor) ↩︎