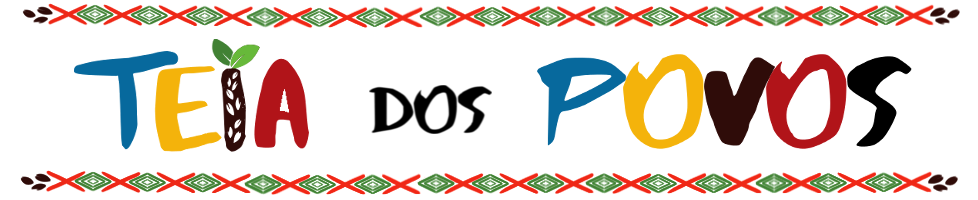Texto inspirado na apresentação feita no IV Encontro Baiano de Educação do Campo – Educação do Campo, Agroecologia e Territórios em Disputa: Fortalecendo Novas Primaveras, 19 a 21 de setembro de 2024, UNEB, Salvador – BA, Mesa: Agroecologia, Arte e Cultura.
José Maria Tardin 1
Dominique M. P. Guhur2
Almejamos neste texto ensaiar um campo argumentativo que dê sustentação material à conexão da Agroecologia com a Cultura e a Arte, na intenção de participar das reflexões críticas que vem se colocando na atualidade, tanto no interior dos Movimentos Sociais Populares do Campo, a partir das formulações da concepção de agroecologia e de sua prática; como em outras áreas que mais e mais se assumem influenciadas e influenciadoras da agroecologia, com destaque para a Cultura e a Arte.
Iniciamos o texto resgatando aspectos históricos relacionados ao surgimento da agroecologia, e destacando elementos relevantes da Educação em Agroecologia no âmbito dos Movimentos Sociais do Campo, das Águas e Florestas, no intuito de melhor dialogar com educadores e educadoras do Campo.
Na sequência, partimos do seu significado etimológico, para reiterar que a agroecologia se dá como práxis histórica, e que suas bases, portanto, hão de ser apreendidas na própria história das agriculturas, existindo na atualidade em conflito, contradição antagônica e lutas contra o capital-agronegócio3, que também se apresenta como invasão cultural.
Para evidenciar as “humanas conexões necessárias” entre Agroecologia, Cultura e Arte, tomamos por base as categorias fundamentais do trabalho, práxis e ser social, e debatemos a “educação dos sentidos”, entendendo a “cultura como o acrescentamento que o homem faz ao mundo que não fez” (FREIRE, 1987, p.109).
Ao final, destacamos a Agroecologia como realização humana humanizadora dos Povos do Campo, das Águas e Florestas – estes, sujeitos sociais da práxis – conscientes de seu pertencimento ao gênero humano e à natureza. Um modo de ser agri-cultural, um modo de viver orientado pelo cuidado, pelo cultivar, pelo criar e recriar, em toda sua diversidade.
Agroecologia, Ciência e Educação do Campo
O que é agroecologia?
Agro-eco-logia é foice. Alicate. Facão.
Ferramentas em punho, em mão.
Corta. Recorta. Derruba no chão
as cercas do latifúndio
dos conhecimentos em ciências agrárias.
Para compreender o contexto de surgimento da agroecologia, é preciso ter presente que, ainda no século XIX, a decadente produção agrícola capitalista provocada pela degradação ambiental em geral, e dos solos em particular, na Europa e Estados Unidos da América, provoca a emergência das ciências agrárias já com estatuto e institucionalidade acadêmica a serviço da burguesia agrária. Informa Tardin (2012, p. 34) que “[…] em 1848, se institucionaliza a agronomia, com a fundação do Instituto Nacional Agronômico de Versailles, França”.
Assim como ocorrera com os artesãos no processo de formulação do método científico,4 os Povos do Campo, das Águas e Florestas vão ser discriminados e também alijados da participação ativa e socialmente reconhecida na produção de conhecimentos nas ciências agrárias, em que pese uma história de mais de 10 mil anos de agri-culturas campônias mundo afora. Tais povos serão ademais continuamente vitimados por distintos processos violentos, impetrados pela burguesia agrária e os Estados burgueses.
No transcorrer do século XIX até a segunda guerra mundial (1939/1945), as burguesias industriais, bancárias e agrárias, por seu domínio econômico e político de classe através dos Estados nacionais, vão direcionar investimentos públicos crescentes em pesquisas científicas, que permitirão a estruturação do sistema imperialista sobre a agricultura mundial, no que se nominou de “revolução verde”. As ciências, nesse período, passam a ser, em grande medida, subsumidas como força produtiva no interesse e necessidade da reprodução ampliada do capital.
Com os avanços das forças produtivas, que incluem as ciências em geral, e a hegemonia expandida do capital imperialista atualizada como neoliberalismo, o domínio sobre a agricultura se estruturará como agronegócio. Este irá referenciar tecnologicamente a agricultura não mais nos limites do que fora as ciências para a “revolução verde”, mas no que nominam atualmente de “agricultura 4.0”, apoiada em novas bases científicas.
Agricultura 4.0, também conhecida como Agricultura Digital e Agritech, é um termo criado em 2018, com a publicação do relatório Agriculture 4.0: The Future Of Farming Technology, pelo World Government Summit. Trata-se de um conjunto de tendências tecnológicas no agronegócio que visam digitalizar os processos agropecuários, com a atuação de poucas empresas transnacionais no domínio das plataformas digitais, bases de dados e nuvens, no que convencionam chamar de Agricultura de Precisão, a Big Data e a Internet das Coisas, conjuntamente integradas e conectadas através de softwares, sistemas e equipamentos, máquinas e aplicativos (por exemplo, GPS, telemetria, sensores, drones, celulares, computadores etc). Com este sistema integrado, o oligopólio de grandes corporações transnacionais terá um acesso amplo a informações detalhadas da agropecuária, o que lhe permitirá um maior controle de dados sobre o ambiente natural, desde a produção agropecuária até os mercados de consumo, ampliando sobremaneira suas oportunidades de negócios. Traz novas implicações para a soberania dos agricultores e dos países.
Uma denúncia da imposição técnica na produção e da exploração do campesinato pelo sistema bancário, está bem posta neste resumo da canção “Sou do Banco”, no cantar de Luiz Gonzaga:
É que matuto deu de garra dos papé
E foi bater no banco do Juazeiro
Tirou dinheiro e comprou cinco vaquinha
E para tanto contratou logo um vaqueiro
O tangedor logo montou um alazão
E abriu os peito num aboio que não tem fim
Coitada da boiada encabulada
Com o chocai’ tocando assim
Eu sou do banco
Do banco, do banco
Eu sou do banco
Do banco, do banco
Eu sou do banco
Do banco do Brasil
Do banco do Nordeste
Cabra da peste
No Ceará, eu sou do BEC
Mas em Pernambuco sou do BANDEPE
BANDEPE, BANDEPE
BANDEPE, BANDEPE
Neste mesmo período de pouco mais de 100 anos, verificamos grandiosos processos de insurgências, revoltas, rebeliões e guerras protagonizadas por povos campônios em defesa de seus territórios e seus modos de vida agri culturais, frente aos sistemáticos ataques militarizados impetrados por empresas capitalistas, burguesias agrárias e Estados burgueses. Esse ativismo rebelde e armado também é verificável na participação destacada do campesinato em revoluções sociais socialistas e guerras de libertação e emancipação nacional.
No mesmo período, ademais de crescentes apreensões dos processos ecológicos e de suas interações com a agricultura no meio acadêmico-científico, reações criativas e persistentes vão sendo formuladas e postas em prática no campo, com ampla experimentação e, em geral, em relação direta com o campesinato, sustentando a natureza como referência necessária para a reconstrução ecológica das agri-culturas. Estas iniciativas vão fundamentar e estruturar diversos sistemas de agri-culturas de base ecológica-orgânica.
É nos primeiros anos que se seguem à Revolução Russa, em 1928, que se coloca o conceito de agroecologia, por iniciativa do botânico e agrônomo russo Vasily Mitrofanovich Benzin, que posteriormente radicou-se nos Estados Unidos da América, onde divulgou suas elaborações (CAVALCANTI-SCHIEL, 2024).
O primeiro e maior programa de agroecologia realizado até a atualidade se deu a partir de 1949, na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas-URSS, denominado de Grande Plano de Transformação da Natureza. Elaborado e proposto pela Academia de Ciências e outras instituições de ensino e pesquisa, foi implementado de início um total de 112 mil hectares. Previa-se sua implementação total até o ano de 1965, no entanto, foi encerrado em 1955, com em torno de um terço das metas realizadas.
A retomada acadêmico-científica da agroecologia vai ser impulsionada a partir dos anos 1975. Pesquisadores passam a estudar sistemas agrários camponeses em alguns países latino-americanos, e a sistematizarem e publicarem artigos e livros que alcançarão crescente público nos anos de 1980. No Brasil, é sobretudo no final desta década, e em especial na década de 1990, que a agroecologia será amplamente assumida por diversificados sujeitos sociais com atuação junto à agricultura camponesa. Nos anos 2000, os Movimentos Sociais do Campo articulados na Via Campesina no Brasil é que assumirão a agroecologia no seu programa político, e na sua implementação nacional junto às famílias camponesas organizadas em seus territórios – comunidades, acampamentos e assentamentos da reforma agrária (GUHUR; SILVA, 2021; COSTA, 2017).
Um feito extraordinário e decisivo realizado pelo MST, foi a iniciativa pioneira em 2002 de criação do primeiro curso técnico médio em agroecologia no Brasil.5 Já em 2005, por iniciativa coletiva da Via Campesina, se estabeleceu o primeiro curso de graduação em agroecologia no Brasil e na Venezuela.
Verificamos assim que no transcurso de apenas duas décadas forjamos no Brasil, nas lutas da Articulação Nacional por Uma Educação do Campo, atualmente conformada no FONEC – Fórum Nacional de Educação do Campo, um sistema de educação profissional em agroecologia que vai do nível médio técnico ao doutorado. Além disso, na atualidade, viemos efetivando iniciativas várias no país, de incluir a agroecologia na educação básica. Uma vitória que muda em profundidade o curso da história da educação profissional em ciências agrárias até então sob hegemonia absoluta, inicialmente das oligarquias rurais latifundiárias, depois da burguesia agrária e atualmente do agronegócio.
Decisivamente, são estas iniciativas no âmbito da educação, incluindo a educação formal técnica, associadas ao crescente movimento de caráter camponês e popular, que afirmarão a agroecologia como foice, alicate e facão, derrubando as cercas do latifúndio dos conhecimentos em ciências agrárias.
Agro – eco – logia
Vocábulos
Fonemas
Modos de viver
Lutas
Canções
Poemas.
A palavra agroecologia se origina da junção de três étimos: agro + eco + logia. Agro faz referência à agricultura, por sua vez composta por agri + cultura. Do latim, “agri”, azedo, ácido. Para ilustrar lembremos de vinagre (que é vinho ácido, azedo), agridoce (tempero que resulta da mistura de substância ácida, como vinagre ou limão, com outra adocicada, como mel ou açúcar). Em agri-cultura, tem o sentido de trabalho árduo, penoso. “Agro” também deriva do grego “ager”, campo, gleba correspondente à capacidade de trabalho agri-cultural de uma família. Cultura vem do latim “colere”, que significa cultivar, criar, cuidar, tomar conta.
Assim, por sua origem, pode-se tomar o vocábulo agricultura no sentido reiterador de relações sociais de cultivar o campo, criar no campo plantas e animais, sob relações de cuidado, de tomar conta. Relações sociais na e com a natureza, que criativamente transformam o campo (a natureza, os ecossistemas) agri-culturalmente, e simultaneamente transformam os sujeitos humanos agentes das criativas transformações. 6
De onde o entendimento de que a realização agri-cultural demanda necessariamente a presença humana no campo, o enraizamento humano no campo. No quadro histórico atual, demanda e mantém historicamente a exigência da reforma agrária, a demarcação dos territórios dos povos originários, quilombolas e comunidades tradicionais. Sem terra e territórios, os sujeitos do campo não se realizam humanamente. Eco vem do grego “óikos”, que significa casa, lugar, ambiente. Que de imediato nos remete à noção de “’casa comum”, “lugar” de morada da coletividade da Vida, de modo que cada qual está em relação com cada qual, numa inextrincável totalidade: eu – não-eu – nós. Os seres orgânicos se relacionam e interagem em diversificadas cadeias e teias de vida, onde a potência do movimento vivo é o alimento, que nutre o metabolismo universal da natureza. Todos os seres orgânicos são simultaneamente alimento e produtores de alimentos. A natureza não produz insumos e, tampouco, produz lixo. Matéria e energia fluem em ciclos e fluxos.
Ambiente entendido como lugar em forjamento permanente, pelas interações abióticas e bióticas, em que cada ser orgânico realiza sua existência relacional transformando o lugar segundo suas especificidades naturais (aqui, podemos afirmar uma síntese universal da natureza: inorgânico – orgânico). Enquanto o humano, de maneira diferenciada, realiza sua existência social intencionalmente, tomando ao mundo teleologicamente, externalizando e objetivando material e subjetivamente seu pré-projeto, e continuamente expandindo seu campo de possibilidades. 7
Coloca a necessidade de conhecer mais e melhor a natureza, os processos ecológicos, nos níveis micro e macro, do lugar-ambiente-casa onde o ser humano se faz presente, realizando sua produção e reprodução social e ecológica, e que segue até a apreensão da biosfera, a casa comum da comunidade da Vida.
Logia, do grego “logos”, saber, conhecer. Que nos remete justamente a considerar a esfera do sujeito do conhecimento, a destacada capacidade e perene possibilidade do ser humano tomar a si e ao mundo como desafio epistemológico (FREIRE, 2005). Faz referência aos conhecimentos, aos saberes, às sabedorias, engendrados na práxis histórica do devir humano, desde a longínqua jornada de hominização que se diversifica na presença de nossos ancestrais hominídeos, e se expande em humanização na práxis do Homo sapiens sapiens (MAZOYER; ROUDART, 2010).
Tomemos em reflexão quão diversos e complexos conhecimentos compõem os quefazeres agri-culturais. Transformar plantas e animais silvestres em plantas cultivadas e animais de criação segundo intencionalidades humanas, podemos dizer, plantas e animais humanizados em quefazeres em que os humanos se humanizam. Reflitamos sobre toda a vasta gama de conhecimentos apreendidos e transformações operadas historicamente: a germinação das sementes, a reprodução dos animais, o manejo dos solos e das águas, os sistemas de produção, o conhecimento do clima e das estações do ano, o calendário, as ferramentas e máquinas, as instalações, o beneficiamento, a agroindustralização, a culinária com incomensuráveis práticas e receitas, a organização social, política e do trabalho, os valores morais, a ética, as cosmovisões, as espiritualidades, as religiões, as músicas, as danças, as poéticas, os ornamentos, os trajes. Uma interminável e perene criação e recriação de conhecimentos correlacionados, e transformações de si e do mundo. A agroecologia é, portanto, práxis campônia que nas suas objetivações práticas do trabalho, transformam agri-culturalmente ecossistemas em agroecossistemas. Trabalho, que sendo práxis, constitui-se de conhecimentos – sua prática ideal, imaterial, abstrata – e toma material da natureza e o transforma, humaniza, conferindo-lhe forma, sentido, valor de uso para a satisfação de necessidades humanas – sua prática objetiva, material, concreta.
Práxis sendo ação prático-material e ideal, que se conforma dialeticamente como totalidade – ação – reflexão – ação.
Trabalho, práxis e Ser Social
“Viver e não ter a vergonha
De ser feliz
Cantar, e cantar e cantar
A beleza de ser um eterno aprendiz”.
(Gonzaguinha; O Que É O Que É?)
Das culturas que emergiram das pegadas dos ancestrais hominídeos até nós (a espécie Homo sapiens sapiens), podemos destacar, num sentido criador e criativo, o feito do Australopitcus Afarensis, que intencionalmente tomou a pedra e a impregnou de sentido objetivo criativo, tomando a pedra como objeto de trabalho, e como meio de trabalho, realizando o prototrabalho, a iniciação do trabalho como meio autoproducente do ser. Trabalho que se fará mais e mais sofisticado pelo Homo habilis, um tanto mais pelo Homo erectus, mais ainda pelo Homo neanderthalensis. Este último, com quem o Homo sapiens não só conviverá, mas com quem terá relações sexuais e reproduzirá descendentes, numa reafirmação do ser humano como ser nat
ural, como mais uma espécie em relação com outras espécies aparentadas (ZORZETTO, 2021).
Nessa jornada, o trabalho se torna mais e mais objetivação prática, operando transformações materiais da natureza em bens para a satisfação das necessidades do ser em ação e da sociedade. Em se tratando do ser Homo sapiens sapiens, como força autoproducente, se desenvolverá “um outro novo tipo de ser, distinto do ser natural: o ser social” (NETTO; BRAZ, 2010, p.34), o ser da práxis.
Tanto mais se realiza humanamente, tanto mais o ser social diversifica e complexifica suas objetivações (a práxis). E na base fundante do ser social, o trabalho permanece como modelo da totalidade das objetivações, “uma vez que todas elas supõem as características constitutivas do trabalho (a atividade teleologicamente orientada, a tendência à universalização e a linguagem articulada)” (NETTO; BRAZ, 2010, p.43).
A práxis, portanto, é a categoria que nos permite apreender ao ser humano como sujeito omnilateral, capaz de múltiplas possibilidades de objetivações, ou seja, em seu devir, capaz de expandir suas capacidades de objetivar transformações materiais do mundo e realizar elaborações ideais, imateriais, sendo sujeito da contradição, criador da beleza e da contra-beleza.
Podemos, então, visualizar a síntese universal natureza – sociedade: Inorgânico – Orgânico – Ser social.
Entretanto, no modo de viver sob a opressão e exploração de classe na ordem social burguesa – o capitalismo, a sociedade venal, mercantilizada –, o ser humano encontra-se coisificado e unilateralizado como ser mercadoria: trabalhador, força de trabalho. Ao passo que a práxis, nas suas objetivações ideal – imaterial – abstrata, tanto mais se diversifica e realiza na medida em que o tempo de trabalho socialmente necessário à produção dos bens para a satisfação das necessidades humanas (a jornada social de trabalho) se torna cada vez menor, proporcionando a expansão continuada do tempo livre.
Dessa maneira, a realização crescente da desalienação do trabalho e do conjunto da práxis é uma possibilidade histórica viabilizável somente com a superação do capital. O que fazer libertador se efetiva assim em emancipação humana, onde mais e mais o ser humano se humaniza (se encontra consigo e com a natureza) na realização das múltiplas possibilidades humanas; o que é
belamente referido por Marx (2009, p.49), quando aponta que, na sociedade comunista,
[…] cada homem não tem um círculo exclusivo de atividade, mas pode se formar [aususbilden] em todos os ramos que preferir, a sociedade regula a produção geral e, precisamente desse modo, torna possível que eu faça hoje uma coisa e amanhã outra, que cace de manhã, pesque de tarde, crie gado à tardinha, critique depois da ceia, tal como me aprouver, sem ter de me tornar caçador, pescador, pastor ou crítico.
Nessa perspectiva, o trabalho é visto como constituído e constituinte da práxis humana, mediação das relações sociais e com a natureza, na produção dos valores de uso para a satisfação das necessidades humanas e expansão do tempo livre. Passando a ser livre fruição, realização humana e objetivação da sociedade de produtores livremente associados, pois parafraseando Leon
Trótsky, é preciso conquistar para todo ser humano o direito não somente ao pão mas também à poesia, uma vez que “o ser humano é um ser artístico, um ser desejante, um ser libidinal, um ser criativo, um ser religioso etc e etc” (MANOEL, 2024).
É exatamente este sentido radical da liberdade, como estado de emancipação humana no devir histórico, que se pode denotar das formas sociais de organização de distintos povos originários que eram “pessoas livres” (conforme vasta pesquisa de Graeber e Wengrow, 2022, p. 151): “O auxílio mútuo – o que os observadores europeus da época muitas vezes chamavam de “comunismo” – era tido como a condição necessária para a autonomia individual”.
Tal liberdade se encontra referida às exigências das condições objetivas, materiais e, das condições subjetivas para seu exercício cotidiano, somente sendo realizável numa direção expansiva com a superação da sociedade burguesa capitalista, uma vez que nesta sociedade o ser social está sucumbido na alienação da sua própria existência e reprodução.
Apresenta-se, pois, como imperativo a superação das determinações do capital, que no fundamental se resumem à propriedade privada dos meios de produção, da divisão social do trabalho e da produção mercantil (NETTO, 2020, p. 123). A liberdade em expansão requer tempo livre em expansão, “o mundo humano numa viva ação recíproca dos próprios homens” (LUKÁCS, 2010, p.81), no devir em que o sujeito social vai engendrando a emancipação humana, de modo que o ser humano se aproprie da sua essência omnilateral de uma maneira omnilateral, isto é, “como ser humano total” (MARX; ENGELS; 2010). Frente a esse desafio, não há outra saída: “O ser humano coletivo sente necessidade de lutar” (Chico Science; Monólogo ao pé de ouvido).
Nessa toada, o fragmento da canção Comida nos remete a seguirmos também cantando e dançando nos quefazeres das lutas:
A gente não quer só comida
A gente quer comida, diversão e arte
A gente não quer só comida
A gente quer saída para qualquer parte (Titãs).
A base da organização do trabalho há de ser a cooperação. Na práxis histórica da longa experimentação agri-cultural, nossos ancestrais desenvolveram diversificadas formas de cooperação em seus processos de produção e reprodução da vida social. Necessariamente, a cooperação não só antecede, como se impõe na atualidade dos Movimentos Sociais Populares do Campo como exigência condicionante ao avanço da agroecologia como orientação à reconstrução social e ecológica das agri-culturas campônias.
Para continuamente alcançar, desde esta objetivação, a desalienação da práxis camponesa, e reverberar na sociedade, proporcionando avanços agroecológicos no confronto, na luta de classes com o capital-agronegócio. 8
Parafraseando Paulo Leminski, poetizemos:
En la lucha de clases
Todas las armas son buenas
Piedras
Noches
[Agroecología]
Poemas.
Agronegócio, invasão cultural e indústria cultural
Vimos anteriormente a origem etimológica da palavra agricultura, da qual deriva a palavra “agronegócio”, Agro + negócio.
Agro é uma contração que oculta um conteúdo essencial, tratando-se ao mesmo tempo de uma corruptela, dado corromper, manipular e tornar utilitário seu conteúdo etimológico, dando-lhe um sentido mágico, abstrato, ressignificado no imaginário social segundo a ideologia da classe dominante.
Especialmente ao subsumir o termo “cultura”, o termo “agro” mitifica a significância fundamental do vocábulo agri-cultura, ocultando as relações sociais necessárias do sujeito humano criador e criativo, e se faz efetiva manipulação ideológica da subjetividade social, direcionando-a magicamente da maneira que interessa à burguesia: “agricultura é não mais do que agro-negócio”. No âmbito da propaganda, permite massificar uma publicidade totalitarista: “o agro é pop; o agro é tech; o agro é tudo”. Subsumindo, dessa maneira, a diversidade dos sujeitos do campo em sua multiplicidade étnico-cultural, e dos agrocossistemas e seus sistemas de produção, em um conjunto de imagens e discursos, que ao final, dialeticamente se diluem e se unificam num consenso social pasteurizante reificador: “o agro é negócio; o agro é tudo; tudo é negócio”.
Entretanto, uma palinha com Gilberto Gil ilustra perfeitamente a farsa e a dramaticidade do agronegócio:
Fui passear na roça
Encontrei Madalena
Sentada numa pedra
Comendo farinha seca
Olhando a produção agrícola
E a pecuária
Madalena chorava
Sua mãe consolava
Dizendo assim
Pobre não tem valor
Pobre é sofredor
E quem ajuda é Senhor do Bonfim.
(Gilberto Gil; Madalena).
Para o agronegócio, o campo não passa de uma fábrica expandida a campo aberto, a pleno sol, sendo a agricultura apenas uma engrenagem na reprodução ampliada do capital.
O modo de viver do agro-negócio é o campo fabril, maquinal, sem gente, o campo como mono-cultura – monocultura de poucas mercadorias agropecuárias e, monocultura da subjetividade, como cultura totalitária do capital. Neste mórbido contexto que se agrava e avança, é que o fazer cultural artístico também sucumbe, não podendo ser mais do que a objetivação da “aparência como o único modo de ser possível e real dos homens” (LUKÁCS, 2010, p.87).
Em sua incessante ação pela hegemonia política, que reverbera na batalha das ideias, o agronegócio se organiza em distintos aparelhos privados de hegemonia da classe, e em que pese suas diferenciações internas e seus conflitos de interesses burgueses, se unifica no “Partido do Agronegócio”. Uma das esferas privilegiadas de sua ação inclui cada vez mais a ofensiva sobre as escolas públicas, não só no âmbito da graduação e pós-graduação em ciências agrárias, mas também e com força na educação básica (LAMOSA, 2016).9
A produção de uma imagem pretensamente positiva do agronegócio, que busca conformar uma opinião pública favorável a seu dispor, conta com vultuosos investimentos financeiros. Tais investimentos promovem continuamente a “invasão cultural” (FREIRE, 2005), que para além da educação formal, se espraia na sociedade via patrocínios a artistas, shows, eventos de recorte ruralista, etc, conformando uma estratégica aliança com a indústria cultural. (CHÃ, 2016).
O agronegócio realiza a exploração dos Povos do Campo, das Águas e Florestas, usurpando a riqueza social que produzem bem como sua subjetividade, por meio da manipulação ideológica. Instaura-se no imaginário do seu hospedeiro (FREIRE, 2005), alienando sua visão de mundo, as cosmovisões campônias.
Já no polo oposto, antagônico, temos a agroecologia, que não esqueçamos, se dá na atualidade em conflito e contradição com o capital. E que possibilita confrontar-se com a objetividade material como “invasão cultural”, para forjar, coletivamente, a superação da opressão e exploração operada pelo capital.
Agronegócio x Agroecologia: a Educação dos Sentidos
Em sentido antitético à agroecologia camponesa, a atividade burguesa do agronegócio constitui uma objetivação alienada do burguês, tanto por estar subsumido na atividade venal na busca frenética da reprodução ampliada do capital, como por sua completa “separação” da natureza. Uma vez que o ser burguês do agronegócio sequer conhece de forma direta e pessoal os latifúndios de que dispõe como propriedade privada, e tampouco realiza qualquer atividade produtiva de transformação da natureza nas commodities que negocia nas bolsas de valores, seus sentidos são esvaziados de sensibilidade humana humanizadora. Sua sensibilidade em relação a outro ser humano se limita, quando muito, à caridade – “falsa generosidade”, e em relação à natureza, não se manifesta mais do que num gozo momentâneo, fugaz, mas sobretudo, alcança êxtase ao calcular seu valor mercantil. De modo que, tendo “O sentido preso na necessidade prática rude tem também somente um sentido tacanho”. E sob tal condicionamento,
O homem necessitado, cheio de preocupações, não tem nenhum sentido para o espetáculo mais belo; o comerciante de minerais vê apenas o valor mercantil, não a beleza nem a natureza peculiar do mineral; ele não tem qualquer sentido minerológico […] (MARX, 2015, p. 352-353).
No tratamento da formação e educação histórica dos sentidos, Marx (2015, p. 350) afirma que
Para o lugar de todos os sentidos físicos e espirituais entrou, portanto, a simples alienação de todos esses sentidos, o sentido do ter. A superação da propriedade privada é por isso a completa emancipação de todos os sentidos e qualidade humanas; mas ela é emancipação precisamente pelo fato de esses sentidos e qualidades terem se tornado humanos, tanto subjetiva quanto objetivamente.
Ao contrário do agronegócio, de certa maneira a práxis agroecológica demanda e ao mesmo tempo estimula ao sujeito da ação a reeducação dos sentidos, o qual vai se forjando um ser sensível mais e mais consciente de sua sensibilidade. Sujeito da práxis agroecológica que denota modos sensíveis de se ver e sentir humanamente pertencente ao gênero humano e à natureza, de modo que, também consciente das relações cotidianas que efetiva com a terra, a água, a chuva, a seca, o ar, o fogo, o vento, a brisa, o calor, o frio, as sementes, as plantas, os animais, o sol, as estrelas, a lua, o dia e a noite, as estações do ano, as cores e cheiros naturais, mobiliza o ser em sua omnilateralidade que se vai objetivando em criatividade objetiva-material e subjetiva-imaterial.
Podendo, desta maneira, apreender-se dialeticamente pertencente à magnitude da totalidade social e cósmica, radicalmente cônscio de “Que a vida física e espiritual do homem esteja em conexão com a natureza não tem outro sentido senão que a natureza está em conexão com ela própria, pois o homem é uma parte da natureza” (MARX, 2015, p. 311).
Neste sentido é que a práxis campônia agroecológica proporciona um cotidiano qualificado potencialmente ampliador do campo de possibilidades à educação dos sentidos, haja visto, como afirma Marx (2015, p. 352-3) que
A formação dos sentidos é um trabalho de toda a história do mundo até hoje. (…). Portando, a objetivação da essência humana, tanto do ponto de vista teórico quanto do prático, é necessária tanto para fazer
humanos os sentidos do homem como para criar sentido humano correspondente a toda a riqueza do ser humano e natural.
As necessidades humanas tomadas em desafio dinamizam os processos cognitivos, a criatividade, a teleologia, que almejam sua satisfação subjetiva e objetiva, e uma vez externalizadas reverberam na fruição prática produtora da satisfação daquelas necessidades de ordem material e imaterial. Dentre outras repercussões, incidirão na continuada educação dos sentidos, e por sua vez, da sensibilidade humana, dado que “As necessidades humanas, porque sensíveis, implicam objetos para a sua satisfação; estão vinculadas aos sentidos humanos, que se apropriam desses objetos, que não são naturais” (NETTO, 2020, p. 130).
Dotado da capacidade de distanciar-se de si e do mundo, o sujeito da práxis agroecológica pode também tomar a si e ao mundo como desafio epistemológico, e se distinguir como parte em conexão, sabedor de que “O animal dá forma apenas segundo a medida e a necessidade da species a que pertence, enquanto o homem sabe produzir segundo a medida de cada species e sabe aplicar em toda a parte a medida inerente ao objeto; por isto, o homem dá forma também segundo as leis da beleza” (MARX, 2015, p. 313).
Cultura, Arte e Agroecologia
O que hoje podemos chamar de “comportamento humano simbólico complexo, ou simplesmente cultura” (GRAEBER, WENGROW, 2022, P. 100), é objeto de múltiplas e complexas controvérsias, sobretudo quando nos remetemos a considerar as manifestações dos seres humanos ancestrais e de nossos ancestrais hominídeos. Mesmo nosso “primo”, o Homo neanderthalensis, pode ter sido um “Homo estheticus’” (CONDEMI; SAVATIER, 2018, p.152): “o Neandertal no mínimo esteve em contato com as artes sapiens, e pode ter sido ele próprio um artista”, e deste encontro se pode verificar “a emergência da grande arte parietal em continuidade com as criações de dois milhões de anos da história da arte…”.
Assim, o pensamento simbólico antecede temporalmente a iniciação das agri culturas, e esta capacidade já vinha sendo objetivada em ferramentas ornamentadas, adornos corporais (como colares), artes pictóricas e gravuras, seja no interior de cavernas ou grutas (arte parietal) ou em ambientes rochosos externos (arte rupestre). É cabível aduzir que tais capacidades de fruição artística tiveram sua continuidade e expansão constituindo uma das objetivações dos povos campônios (agricultores e pastores), e povos caçadores e coletores, persistindo e se expandindo ainda muito mais na atualidade. Cabe ilustrar, conforme Graeber e Wengrow (2022, p. 98), que mesmo frente à imensurável diversidade de modos de vida, “não se conhece nenhuma população humana que não tenha música nem dança”.
É fato que a práxis agri-cultural agroecológica campônia objetiva a conformação de agroecossistemas esteticamente diversificados, combinando as transformações humanizadoras operadas na natureza com a preservação e regeneração de ecossistemas naturais, os quais, seja no âmbito de uma única
unidade familiar ou num território ampliado, materializam mosaicos de etnodiversidade – agrobiodiversidade – biodiversidade.
Ademais da já referida estética campônia posta na estrutura dos agroecossistemas, é indubitável que no seu devir histórico os Povos do Campo, das Águas e Florestas se apresentam como artistas criadores em múltiplas linguagens artísticas: a música, a dança, o teatro, a literatura, a pintura, a escultura, a arquitetura… E que criam tudo o mais que conforma cada uma das linguagens artísticas: instrumentos musicais, vestuário, ornamentos, coreografias, infraestrutura, instrumentos de trabalho, materiais diversos.
Ao alimentar o cultivo educativo dos sentidos humanos, e proporcionar quefazeres práticos materiais e imateriais, a agroecologia desafia a capacidade imaginativa, abrindo o campo da criatividade frente aos desafios sociais e ecológicos que se colocam nas relações sociais de produção e reprodução da vida. Ao transformar o mundo, o sujeito humano transforma a si mesmo, pois que é parte do mundo. A “separação” do sujeito frente ao mundo, não pode ser mais do que momentos de “distanciamento”, de “ad-mirar” o mundo, abstração, processo gnosiológico de tomar o mundo como desafio epistemológico, de apreensão de si e do mundo (FREIRE, 2005).
À guiza de conclusão
Nos Movimentos Sociais Populares do Campo articulados na Via Campesina, está claro que a agroecologia que se vem objetivando nos agroecossistemas e nos currículos da Educação do Campo, vivenciada e sentida como modo de vida campônio, “não tem volta” (Ana Maria Primavesi, in KNABBEN, 2016). Está posta como objetivo estratégico nos Programas Agrários das organizações.
A consciência crítica da dimensão ecológica da vida, que orienta o quefazer agroecológico e a convivência social na e com a natureza, reverbera nas múltiplas dimensões do Programa Agrário, se constituindo assim em dimensão do programa político, em posicionamento político na luta de classes. Supera qualquer viés oportunista de caráter burguês (o qual coopta a problemática ambiental-ecológica situando-a como oportunidade de negócio: econegócio, capitalismo verde, sequestro de carbono), e reafirma que “A agroecologia é política e […] exige que enfrentemos, desafiemos, e transformemos as estruturas de poder da sociedade” (DECLARACIÓN…, 2015, p.5).
A agroecologia, portanto, não pode ser plenamente generalizada no interior da sociedade capitalista, haja visto que as determinações do capital fazem dele um autômato que opera a impositividade negativa da exploração do trabalho e da natureza, independente das vontades pessoais.
Entretanto, a agroecologia qualifica os Povos do Campo, das Águas e Florestas no seu programa político orientado na luta de classes pela superação do capitalismo, de modo que “(…) é no âmbito das lutas e da resistência dos povos contra o capitalismo que se inscreve a agroecologia”. Tal posicionamento porta a clareza de que a agroecologia não “(…) seja confundida com uma proposta
política e societária em si mesma, o que de fato não é” (GUHUR; SILVA, 2021, p.70).
Significa, sim, o combate e superação do capitalismo como condição para a expansão da emancipação humana, como condição para que se possa, “restabelecer o curso alterado da coevolução social e ecológica” (SEVILLA GUZMÁN; MOLINA, 1996). Não só para os Povos do Campo, das Águas e Florestas, mas também para uma sociedade emancipada, liberta da alienação do trabalho, da propriedade privada, da divisão social do trabalho e da produção mercantil, reencontrar-se como gênero humano e pertencente à natureza, e restabelecer o metabolismo sociedade-natureza (FOSTER, 2023). Reconquistar o tempo livre – o tempo de fruição –, abrindo a vida humana como campo ecologicamente fértil, realizando a cada dia “Um mundo onde sejamos socialmente iguais, humanamente diferentes e totalmente livres” (Rosa Luxemburgo). Generalizar a agroecologia na práxis social cotidiana, e de mãos dadas na imensidão do gênero humano, pintar, esculpir, tecer, ornamentar, cantar, dançar, sentir e viver, cônscios de que “Quando o extraordinário se torna cotidiano, é a revolução” (Che Guevara).
Referências
CAVALCANTI-SCHIEL, Ricardo. Como os soviéticos venceram a desertificação. A terra é redonda, 22/09/2024. Disponível em: https://aterraeredonda.com.br/2024/09/22/
CHÃ, Ana Manuela de Jesus. Agronegócio e indústria cultural: estratégias das empresas para a construção da hegemonia. São Paulo: Expressão Popular, 2016.
CHAUÍ, Marilena. Convite à filosofia. São Paulo: Ática, 1997.
CONDEMI, Silvana; SAVATIER, François. Neandertal, nosso irmão: uma breve história do homem. Vestígio, 2018.
CONNER, C. D. Histoire populaire des sciences. [s. l.]: Éd. L’échappée, 2011.
COSTA, Manoel Baltasar Baptista da, Agroecologia no Brasil: história, princípios e práticas. São Paulo: Expressão Popular, 2017.
DECLARACIÓN DEL FORO INTERNACIONAL SOBRE AGROECOLOGÍA. Nyéléni, Mali, 2015. In: LA VIA CAMPESINA. Agroecología campesina: por la soberanía alimentaria y la Madre Tierra. Cuaderno n. 7, n. 2015, p. 62-70.
FOSTER, J. B. A ecologia de Marx: materialismo e natureza. São Paulo: Expressão Popular, 2023.
FREIRE, P. Pedagogia do oprimido. 43a. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2005.
FREIRE, Paulo. Educação como prática da liberdade. 18a. ed. Paz e Terra, 1987.
GRAEBER, David; WENGROW, David. O despertar de tudo: uma nova história da humanidade. Companhia das Letras, 2022.
GUHUR, Dominique M. P., LIMA, Aparecida C., TONÁ, Nilciney, TARDIN, José Maria, MADUREIRA, J. C. As práticas educativas de formação em agroecologia da Via Campesina no Paraná. Cadernos de Agroecologia, 2016, vol. 11, n. 1.
GUHUR, Dominique M. P.; SILVA, Nívia Regina. Agroecologia. In: DIAS, Alexandre Pessoa et al. Dicionário de agroecologia e educação. São Paulo: Expressão Popular; Rio de Janeiro: Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, 2021, pp. 59-73.
KNABBEN, V. M. Ana Maria Primavesi: histórias de vida e agroecologia. São Paulo: Expressão Popular, 2016.
LAMOSA, R. de A. C. Educação e agronegócio: a nova ofensiva do capital nas escolas públicas. Curitiba: Appris, 2016.
LUKÁCS, György. Marxismo e teoria da literatura. Seleção, apresentação e tradução de Carlos Nelson Coutinho. 2a. ed. São Paulo: Expressão Popular, 2010.
MANOEL, Jones. O que é liberdade? 14/11/2024. Vídeo online. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=IidGK1emULc&ab_channel=JonesManoel
MARX, K.; ENGELS, F. A ideologia alemã. Tradução: Álvaro Pina. São Paulo: Expressão Popular, 2009.
MARX, K.; ENGELS, F. Cultura, Arte e Teoria da Literatura: textos escolhidos. São Paulo: Expressão Popular, 2010.
MARX. K. Cadernos de Paris: Manuscritos econômico-filosóficos. São Paulo: Expressão Popular, 2015.
MAZOYER, M.; ROUDART, L. História das agriculturas no mundo: do neolítico à crise contemporânea. São Paulo/Brasília: Editora Unesp, Nead, 2010.
NETTO, J. P.; BRAZ, M. Economia política: uma introdução crítica. 6a. ed. São Paulo: Cortez, 2010.
NETTO, José Paulo. Karl Marx: uma biografia. Boitempo Editorial, 2020.
SEVILLA GUZMÁN, E.; MOLINA, M. G. Sobre la Agroecologia: algunas reflexiones en torno a la agricultura familiar en España. In: GÁRCIA DE LÉON, M.A. (ed). El campo y la ciudad. Madrid: MAPA, 1996. p. 153-197
TARDIN, J. M. Cultura camponesa. In: CALDART, R. S. et al. (org.). Dicionário da Educação do Campo. Rio de Janeiro, São Paulo: Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, Expressão Popular, 2012, p. 178-186.
TARDIN, José Maria. Agricultura. In: DIAS, Alexandre Pessoa et al. Dicionário de agroecologia e educação. São Paulo: Expressão Popular; Rio de Janeiro: Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, 2021, pp. 29-36. ZORZETTO, Ricardo. Laços de família: Há cerca de 46 mil anos seres humanos modernos já habitavam o coração da Europa e tiveram filhos com neandertais. Pesquisa Fapesp, Genética, Ed. 303, maio 2021. Disponível em: https://revistapesquisa.fapesp.br/lacos-de-familia/
- Técnico agropecuário, educador popular em agroecologia, militante do MST. ↩︎
- Engenheira agrônoma, mestre em educação, educadora popular em agroecologia e tradutora, militante do MST. ↩︎
- Esta base categorial e conceitual decorre do já exposto no acumulado na concepção que segue em atualização, mas bem sistematizada nos verbetes de Agroecologia nos Dicionários da Educação do Campo (2012) e de Agroecologia e Educação (2021). ↩︎
- 5 Para uma visão detalhada desse processo, ver Conner, 2011. ↩︎
- Para mais detalhes sobre o histórico de criação dos primeiros cursos técnicos e tecnológico de agroecologia, ver GUHUR et al, 2016.
↩︎ - Ver mais em: Chauí (1997, p. 292); Tardin (2012, p. 178; 2021, p. 29-30).
↩︎ - Ver mais detalhadamente em Marx & Engels (2010). ↩︎
- Para a relação entre agroecologia e cooperação, consultar o verbete “Cooperação” dos já referidos dicionários.
↩︎ - Ver também RIBEIRO, Dionara Soares. A implementação da política de educação do campo no município de Itamaraju Bahia. (Monografia – Curso de Especialização Trabalho, Educação e Movimentos Sociais). Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio (EPSJV) e Escola Nacional Florestan Fernandes (ENFF). Rio de Janeiro, 2015.
↩︎