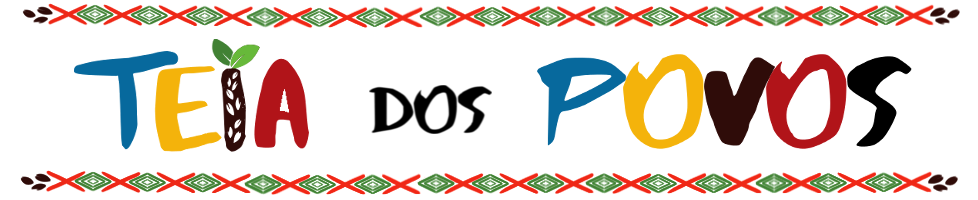por Eduardo Viveiros de Castro
Três definições indígenas
“Cosmopolítica” é o nome das transformações sofridas pelas ideias de “cosmos” e de “política” quando elas são combinadas em um só conceito e um só problema. Esse conceito-problema está associado a orientações teóricas que convergem apenas parcialmente, conforme os diferentes domínios de pesquisa e estilos de reflexão em que ele é utilizado. Diante de tal ambiguidade, é necessário tomar partido. Para resumir em poucas palavras o argumento deste ensaio, diremos que a cosmopolítica é a negação ativa da economia política, mas que vai além da “crítica da economia política”. Perguntar-se sobre os diferentes mundos pós-capitalistas possíveis – sobre o fim do império da economia política, portanto – constitui um dos problemas cosmopolíticos por excelência, pois ele não se presta a uma “solução” única, como aquelas advogadas pelos cosmopolitismos de inspiração kantiana, os ecossocialismos ou as alternativas comunistas,1 projetos que, em geral, se guiam por visões unitárias do porvir, elas mesmas derivadas de imagens igualmente homogeneizantes do presente.
É em razão dessa indeterminação positiva do futuro e da natureza fragmentada do presente que adotaremos como fio condutor três fórmulas que serão como definições do conceito de cosmopolítica aqui esboçado. Elas emergem no contexto do afrontamento entre os coletivos indígenas da América Latina e a modernidade capitalista em suas diversas encarnações (neoliberal, extrativista, financializada, militarizada, tecnofascista, genocida). A primeira fórmula é o famoso lema zapatista: “Queremos um mundo onde caibam muitos mundos”. A segunda é uma questão colocada pelo pensador Ailton Krenak, em seu livro sobre o tempo, o mundo e o fim: “Somos mesmo uma humanidade?”. A terceira é uma distinção feita por Davi Kopenawa no curso de sua denúncia do cosmocídio em vias de ser perpetrado pelo “povo da mercadoria”, os os Brancos: “Para nós, a política é outra coisa. São as palavras de Omama e dos xapiri que ele nos deixou”2.
As duas primeiras fórmulas ilustram um dos pontos críticos nos debates em torno do conceito de cosmopolítica: a questão da difícil, senão impossível, “reconciliação” entre o particular e o universal.3 O lema zapatista é uma variação do paradoxo de Russell: esse mundo almejado faz parte de si mesmo? Pode-se realmente viver nesse mundo, ou vivemos apenas, sempre, em um dos “milhares de pequenos mundos”4 que ele deve acolher? A questão de Krenak, por sua vez, deixa o sujeito da frase em suspenso: nós quem? nós quantos? nós o quê? Somos realmente parte de uma humanidade, ou somos uma diversidade irredutível de modos de devir o que vocês, Brancos, chamam de “humanos”? E somos mesmo uma humanidade, uma espécie excepcional, um hapax ontológico dotado de um suplemento espiritual que nos distingue do resto dos viventes, ou somos uma colcha de retalhos simpoiética, uma federação orgânica heterogênea, semelhante nisso a qualquer outra forma de vida terrestre? A terceira fórmula, en”m, ao opor a palavra dos espíritos indígenas ao discurso traiçoeiro dos Brancos, levanta o problema do sentido da noção de política em mundos habitados por muito mais pessoas, mais presenças intencionais, do que desconfia “nossa” humanidade esclarecida –mundos estes que o grande criador quilombola de contraconceitos, Antônio Bispo dos Santos, dizia serem imunes à “cosmofobia” dos Modernos.5
As três definições acima são exemplos, elas mesmas, daquilo que definem, a saber, a cosmopolítica tal como praticada pelos povos indígenas e afro-indígenas das Américas. A adoção desta perspectiva do “Sul global” parece-nos de valor estratégico para pensar um problema que se intensificou dramaticamente depois que o colapso ambiental planetário se tornou evidente, o problema das diferenças que dividem a “humanidade que pensamos ser” (A. Krenak), tanto no que concerne às relações intra-humanas (“políticas” no sentido usual) como àquelas que dizem respeito às formas de interpenetração entre a(s) humanidade(s) e o mundo “natural” (um dos sentidos de “cosmos”).
A questão cosmopolítica é, assim, a da relação entre, por um lado, as diferenças entre os coletivos humanos e, por outro lado, as diferentes maneiras de inserção nas redes de interdependência que ligam esses coletivos a uma multidão de seres e fenômenos: espécies vivas, ambientes, paisagens, objetos técnicos, espíritos, deuses e outras metapessoas.6 As variedades da humanidade (povos, etnias, classes, gêneros)se distinguem e dividem, então, por suas diferentes maneiras de não serem exclusivamente humanas. Diante das mudanças das condições ambientais globais, provocadas pela expansão de uma matriz civilizacional baseada na extração crescente da energia acumulada no planeta, todas essas diferentes maneiras estão com sua sobrevivência ameaçada, embora em graus e ritmos variáveis. Eis porque o conceito-problema de cosmopolítica, como dissemos acima, implica a difícil questão da relação entre os diferentes mundos (humanos e outros) e sua comum inserção terrestre – com a complicação suplementar de que a Terra não é um simples pano de fundo para esses mundos que ela constitui e que em larga medida a constituem, mas é ela própria uma multiplicidade equívoca e um agente complexo.7
A perspectiva indígena a partir da qual a ideia de cosmopolítica é abordada neste artigo lhe confere uma inflexão contracolonial e anticapitalista que nem sempre está em primeiro plano em seus outros usos. A palavra “indígena” indica aqui, primeiro de tudo, a relação de imanência entre certos povos e a terra, em sua tripla natureza de fonte da vida, meio de subsistência e dimensão mítica de referência8. Ela é aqui estendida de modo abarcar todos os coletivos e todos os mundos cuja existência foi arruinada ou está ameaçada pelo tecnocapitalismo. A noção de “indígena” transcende, assim, suas conotações de “grupo étnico”, incluindo as numerosas “minorias indesejáveis” e os “povos subjugados”9, bem como as inumeráveis outras formas de vida devastadas pela voracidade e a irresponsabilidade do anthropos. O sentido da palavra “terra”, por sua vez, inclui as diversas formas contraestatais de territorialização (zonas ferais, aldeias indígenas, quilombos, ocupações camponesas, comunas, favelas, ZADs),10 bem como os territórios existenciais criados na luta contra a “hidra capitalista” (grupos de defesa antifascistas, movimentos pelo clima, redes de solidariedade interseccional). Isto posto, e dada a natureza da catástrofe ecológica em curso, o sentido de “terra” que não se deve perder de vista é o mais concreto possível: solo que nos alimenta, país que se estende por debaixo de todas as nações, zona crítica da Terra que gera e é gerada pela vida. É sobre esta T/terra que se decide, hoje mais que nunca, a questão nietzscheana do “sentido da terra”.
A indigeneidade como condição cosmopolítica, enfim, constitui uma exterioridade relativa, e não uma anterioridade absoluta, ao mundo capitalista; ela não é uma pré-modernidade, mas uma extramodernidade, contemporânea ao capitalismo, ao mesmo tempo condicionada e negada por este, mas que provavelmente lhe sobreviverá. Do mesmo modo, a cosmopolítica indígena não é uma “pré-política”, mas uma “alterpolítica”,11 e o “pós-capitalismo” que é o tema deste Dicionário12 não deve ser pensado como um progresso relativamente ao mundo ainda imperfeito do capitalismo, mas como uma saída, uma deserção das “leiras do exército humano que se crê em marcha ascendente para o Reino. Uma catábase libertadora: “abajo y a la izquierda”, como dizem os zapatistas.
Cosmopolitismo
O substantivo “cosmopolítica” deve ser distinguido de “cosmopolitismo”, embora em alguns trabalhos recentes os dois termos sejam tratados mais ou menos como sinônimos. O adjetivo correspondente ao substantivo “cosmopolitismo” é “cosmopolita”, não “cosmopolítico”.13 Um fenômeno, proposição ou problema cosmopolítico implica justamente uma postura que desconfia da pretensão cosmopolita a reduzir toda diferença política a um denominador comum, um fato “indiscutível” com valor de fundamento, quer se trate do Homo sapiens como espécie natural, da Humanidade como condição moral, da Economia como última instância, da Terra como objeto astronômico, da Ciência como predominando absolutamente sobre os demais interesses da razão, e de quaisquer outras armas de universalização em massa. “Desconfiar” significa complicar preventivamente – o que não é a mesma coisa que rejeitar categoricamente – o apelo a toda instância transcendente com o poder de unificar e pacificar, em nome de uma Causa Comum, as divergências e incomensurabilidades entre os inumeráveis mundos que compartilham a Terra. Há mundos com os quais nenhuma paz é possível.
A ideia de cosmopolitismo remonta ao tema estoico do sentimento de não pertença a nenhuma polis ou ethnos específicos, mas de ser um kosmopolites, um cidadão do universo. Ela recebeu, com o cristianismo paulino, o sentido de koinonia, de comunidade fraterna pan-humana, e, mais tarde, de cidadão da polis divina agostiniana. Com Kant, o pai do cosmopolitismo moderno,14 o sentimento estoico se transforma (ou se inverte) em um projeto político-jurídico, a “paz perpétua” entre os Estados-nação, como etapa do processo histórico de consolidação de uma sociedade civil mundial, que obedeceria a um “plano oculto da natureza”. Os sentidos gregos de “cosmos” como totalidade harmônica e de “política” como governo de uma coletividade exclusivamente humana ressoam de maneira perceptível na maioria das referências modernas à ideia de cosmopolitismo.
O projeto cosmopolita permaneceu vivo ao longo dos dois últimos séculos sob diversas formas, como os socialismos “utópicos” e “científicos”, a teoria e prática do imperialismo ocidental, a institucionalização das organizações intergovernamentais, ou a ascensão do “multiculturalismo”.Mais recentemente, ele esteve associado ao tema neoliberal da globalização, e em seguida confrontado aos impasses técnicos, políticos e filosóficos criados pelo colapso climático. O projeto é frequentemente discutido no contexto de uma “governança” supranacional (a Europa é – ou era – vista como o paradigma de todo cosmopolitismo futuro) apoiada em uma tecnologia de comunicação e de controle das populações. Embora ele tenha tido desenvolvimentos filosóficos importantes (E. Lévinas, J. Derrida) e atualizações conceituais (C. Taylor, U. Beck), o cosmopolitismo conserva suas marcas de nascença na antropologia kantiana.
A fórmula cosmopolita seria, assim, como uma versão antropocêntrica da divisa zapatista: “Queremos um mundo onde caibam todos os humanos – mas só os humanos”. Sabemos, é claro, que nunca foram todos os humanos (“somos mesmo uma humanidade?”). A cosmópolis ou o “mundo comum” tão desejados parecem se manifestar sobretudo em sua face negativa, isto é, na forma da devastação planetária causada pelo extrativismo furioso e pela esterilização material e espiritual dos mundos que restam. Cosmofobia e cosmocídio. A política, en”m, continua a ser determinada pelos mesmos gestos de exclusão que aqueles que de”niam a polis grega – como se a cidade-Estado antiga estivesse destinada a se projetar no futuro como um mundo-Estado, um Estado mundial sob a tutela do Ocidente.15
É contra tudo isso que a cosmopolítica indígena vai se constituindo, sob a forma de uma variedade de práticas de “contracolonização” (Antônio Bispo), vale dizer, de ocupação física e de intensificação metafísica dos espaços estriados pela propriedade privada, capturados pela sobrecodificação estatal e “desencantados” pela axiomática do capital. Os povos indígenas, aqui no sentido primário de povos que são a forma humana da Terra – aqueles para quem ocupar a terra é sinônimo de se ocupar da terra e se preocupar com ela – são assim um exemplo para os diversos experimentos de “aterrissagem” ecológica e de criação de formas de vida pós-capitalistas que vão-se difundindo em países do Norte global.16 Pois se a modernidade capitalista se projeta como um “one-world world”,17 um mundo que se pretende único, ela não coincide com “o Ocidente”: por um lado, seu desenvolvimento máximo está sendo hoje atingido por nações não ocidentais; por outro, tanto o Ocidente como a modernidade em geral não coincidem com este mundo único (um mundo “global”, mas que nem por isso é um mundo “total”), em virtude da presença de fraturas, dissidências e contradições.18 Estas são ao mesmo tempo internas e externas, visto que a economia política do capitalismo necessita de um domínio exterior a si para sua reprodução: sem a “acumulação primitiva” permanente, sem a produção contínua de um exterior (intensivo e extensivo), a máquina do capital entra em pane. Uma das teses contidas no conceito de cosmopolítica aqui esboçado é que é principalmente neste exterior que se acham as sementes dos mundos pós-capitalistas por vir.
Cosmopolíticas
Uma ideia não cosmopolita de cosmopolítica foi inicialmente – em 1997 – proposta por Isabelle Stengers, na forma de uma reconfiguração das exigências e obrigações das práticas de conhecimento modernas, em particular das diversas ciências, situando estas em um campo compartilhado com outros saberes, outros interesses e outros atores, humanos e não-humanos. 19
Ao mesmo tempo em que se dedicou à tarefa “contracrítica” de defender a significação e o valor da aventura científica moderna, demonstrando como os seres construídos pelas ciências experimentais acedem a uma existência objetiva, Stengers tem sido uma das vozes mais eloquentes na denúncia da outra face da instituição científica, a saber, sua captura pela economia política do capitalismo e seu papel na gênese e amplificação do colapso ambiental20. Sua “proposição cosmopolítica” defendia uma atitude de hesitação e de ralentamento de todo processo político onde a autoridade da Ciência é brandida como argumento para a imposição de uma obediência inquestionável, o que costuma ser o caso quando estão em jogo os objetivos mais que questionáveis da economia capitalista. As ideias de hesitação e de ralentamento ganharam um peso adicional com a percepção da emergência climática, e a consequente tentação de se passar da posse das evidências científicas de um problema ao poder de definir os termos políticos – as medidas, os custos e as vítimas – de sua solução.
Vários domínios de pesquisa não tardaram a adotar (e adaptar) a “proposição” de Stengers21 no tratamento de suas diferentes problemáticas. Assim foi o caso dos estudos de ciência e tecnologia (análise de sistemas sociotécnicos, histórias não-epistemológicas da gênese de fatos científicos, descrições da “ciência em ação”), da etnografia multiespécies e áreas congêneres (estudos animais, agenciamentos entre humanos e não-humanos, ecologia política), e da antropologia dos povos extramodernos (formas de acoplamento com o ambiente, modos de existência das metapessoas, práticas de contracolonização).
Os diferentes usos do conceito, apesar de não poucas divergências, coincidem na realização de dois deslocamentos críticos. Ambos reagem à obsolescência da partilha do real entre as leis imutáveis do cosmos e as paixões variáveis da política humana – a grande dicotomia entre Natureza e Sociedade (ou Cultura) que está na base da “Constituição” oficial da modernidade, mas cuja violação na prática é o fundamento da matriz cosmotécnica da economia política do capitalismo.22
O primeiro gesto crítico foi a rejeição da metafísica da Natureza herdada da revolução científica do século XVII. Absorvida pela cosmologia da civilização dominante, essa metafísica resistiu à segunda revolução científica desencadeada nas primeiras décadas do século passado, permanecendo relativamente intacta até pouco tempo atrás. Ela entrou publicamente em crise com a percepção do fim da incomensurabilidade entre o tempo da história humana (política) e o tempo da história natural (cosmológica) – em suma, com o evento que veio a ser chamado de “Antropoceno”. A Natureza inaugurada há quatro séculos se mostra, agora, como o resultado de um processo de secularização do monoteísmo: o Deus cristão só foi banido do cosmos para melhor se dividir entre o universo infinito da Natureza (“lá fora”) e a lei moral do Homem (“aqui dentro”). Esse mononaturalismo, sobretudo por seu sucesso como acompanhamento ideológico das ciências físico-matemáticas e das tecnologias que elas possibilitaram, funciona como um instrumento de profundas implicações políticas, seja na legitimação da dominação colonial e da modernização forçada dos povos “subdesenvolvidos” (uma continuação direta da missão de conversão dos pagãos), seja na emergência de um conceito de mundo como grande Objeto, um reservatório de “recursos naturais” a ser gerido pela humanidade como grande Sujeito. Os dois pressupostos, enfim, da economia política do capitalismo: há um só mundo, à disposição de uma só humanidade, sob o comando da fração desta que se imagina a única propriamente humana.
O segundo deslocamento foi a expansão correlativa do domínio da Sociedade ou Cultura, de modo a incluir elementos e processos materiais, dispositivos técnicos, espécies vivas e categorias não-humanas entre os seres dotados de propriedades ou faculdades semióticas (logo, políticas), o que desestabilizou a distinção moderna entre objetos e sujeitos, causas e razões, reatividade e “response-ability” (D. Haraway). A condição existencial e a forma orgânica da espécie humana passam a ser concebidas como mediatizadas por inúmeras outras entidades necessárias à instituição, reprodução e apercepção das sociedades. Isso relativiza a autonomia metafísica da humanidade como Sujeito. O tema da liberdade como emancipação em face da natureza – a ideia de que a “exploração do homem pelo homem” terminará quando este “Homem” dominar completamente as forças naturais – passou a dar lugar à consciência das interdependências planetárias que sustentam todas as formas de vida (o que não significa necessariamente uma paz universal), em um mundo definido pela multiplicidade em todas as suas dimensões. Consequentemente, a distinção central da economia política entre as “forças produtivas” (relações entre os humanos e a natureza) e as “relações de produção” (relações intra-humanas) começa a perder algo de sua pertinência. Ali onde essa distinção jamais foi proclamada – entre os povos indígenas ou extramodernos – o dualismo se dissolve em um campo originário no qual as forças naturais (inclusive a força corporal humana) e as relações sociais (inclusive as estabelecidas com as formas subjetivas das entidades não-humanas) são as duas faces ou momentos de uma só Vida, entendida como a essência animada da Terra.23 O velho tema do “animismo” recebe, assim, um sentido radicalmente (cosmo-) político, para além das tipologias antropológicas e das discussões filosóficas, tornando-se um animismo de combate, uma “crítica da economia política da natureza”24 que está na base da cosmotécnica capitalista.
Todas as cosmopolíticas inspiradas pela proposição de Stengers (e sua adaptação por Latour) manifestam uma orientação pluriversalista, pragmatista e descritivista, em contraste com as tendências universalistas, racionalistas e normativistas dos comopolitismos clássicos.25 Em praticamente todos os textos que reivindicam o conceito, nota-se a insistência de uma nuvem semântica compacta, onde se destacam expressões como: divergência, heterogeneidade, fragmentação, complexidade, multiplicidade, multiverso, pluralismo, hibridismos, simbioses, holobiontes, conexões parciais, pertencimentos não exclusivos, exemplos, excesso, equivocidade, zonas de contato, coexistências, interdependências, superposições, emaranhamentos, entrelaçamentos… Elas qualificam uma variedade de objetos e processos, da composição celular dos organismos à dinâmica dos ecossistemas, das redes cibernéticas e das próteses farmacológicas aos acordos pragmáticos e às sínteses instáveis entre ontologias incompatíveis, das lutas populares contra a devastação da terra pelo capital à contracolonização quilombola, e por aí afora. Estas expressões manifestam uma nova sensibilidade conceitual, em franca oposição ao exercício de uma razão ao mesmo tempo separadora e unificadora, que privilegia as distinções claras, as essências puras, as simplificações ecológicas, as economias de escala e as equivalências gerais: uma razão a serviço da “racionalidade econômica”, uma racionalização do mundo historicamente “entrelaçada” a uma racialização da humanidade.
O conceito de cosmopolítica está, assim, associado à imagem de um cosmos que evoca o caosmos joyceano, e a uma imagem do pensamento como intrinsecamente polêmico, ao afirmar o caráter irredutível, “congênito”, das divergências intramundos e intermundos. Isto coloca a questão da coexistência possível dos diferentes mundos no centro de toda proposição cosmopolítica digna deste nome. Como fazer caber mundos diversos dentro de um mundo que não os fagocite, quando o mundo hegemônico de hoje é precisamente um desses mundos que não cabe em lugar nenhum, porque pretende estar em toda parte: um mundo que não cabe mais na Terra, e que depende, para prosseguir em sua expansão cancerosa, da destruição de todos os outros mundos?
Cosmopolíticas e ontopolíticas
O ponto de vista aqui adotado é o de uma cosmopolítica centrada, ao mesmo tempo, na divergência extrema entre os mundos indígenas e o mundo capitalista, e em seu secular entrelaçamento histórico ao longo de “zonas de contato pluriversais”.26 É deste ângulo que os deslocamentos críticos acima mencionados, que são internos à dinâmica intelectual da civilização dominante, entram em confronto direto com outras tradições intelectuais e outras formas de vida coletiva. A “virada cosmopolítica” coloca estas últimas em uma situação algo paradoxal: elas devem simultaneamente instituir modos de coexistência com certos elementos antropologicamente positivos da civilização dominante (vários aspectos das ciências modernas, por exemplo) e desenvolver modos de resistência às condições objetivas de possibilidade destes mesmos elementos, a saber, a matriz tecnoeconômica capitalista. Observe-se que falamos das condições de possibilidade passadas e presentes, e que toda a questão está em saber se elas são necessariamente condições futuras.
Kopenawa: “Para nós, a política é outra coisa…”. Nessa situação de confronto violentamente assimétrico entre o mundo hegemônico da produção de produção – a função da mercadoria é reproduzir a produção – e os mundos indígenas da troca de dons e do engendramento contínuo da vida (humana e não-humana), o desafio de “incluir os não-humanos na teoria política”27 não é apenas o de complexificar a distinção entre Natureza e Sociedade, mas o de introduzir outras naturezas, povoadas por seres aos quais o mundo (oficial) da modernidade não reconhece cidadania política, e, em muitos casos, sequer consistência ontológica.28 Seres que os modernos reduziram a puras representações subjetivas típicas dos povos pré-modernos, tomadas erradamente por estes como elementos objetivos da “Natureza”, e que foram, portanto, deportados pelos modernos para a zona-fantasma da ‘Sobrenatureza”.
A importância da dimensão “sobrenatural” ou “espiritual” nas cosmopolíticas indígenas explica as diferenças de ênfase entre, por um lado, a antropologia e a história destes povos e, por outro lado, as tendências dominantes nos estudos de ciência e tecnologia (os “STS”) e nos estudos multiespécies, que investigam as condições de cidadania, em uma polis ampliada, de categorias de não-humanos dotados de consistência material ou de alguma outra forma de transcendência objetiva (segundo a cosmologia popular moderna): espécies “biológicas”, dispositivos “técnicos”, processos “físicos”, instituições “sociais” etc. Os cogumelos, os robôs, os micróbios e os neutrinos são tipos de não-humanos muito diferentes dos xapiri yanomami ou dos tirakuna quechua29. A questão da coexistência possível entre os micróbios e os xapiri não se coloca da mesma maneira para “nós” e para “eles” (somos mesmo uma humanidade?). Stengers faz uma pergunta decisiva:
De que forma, e a que preço, as práticas modernas, como as que revelaram
micróbios e elétrons, ou as práticas técnicas que instauram uma
outra ordem de saberes, poderiam coexistir pacificamente com as práticas
não modernas que mobilizam seres sobrenaturais?30
Uma das diferenças importantes entre essas práticas, parece-nos, reside no fato de que os micróbios e os elétrons seriam muito mais facilmente acolhidos por um povo que regula publicamente sua vida pelos “seres sobrenaturais”, do que os espíritos amazônicos e os seres-terra andinos o seriam pelo “Povo da Mercadoria” (Kopenawa), isto é, por nós, os herdeiros das revoluções científicas. E isso não apenas em virtude do diferencial de poder entre esses dois povos – o entrelaçamento histórico dos mundos não é simétrico, as zonas de contato não têm a mesma extensão de um lado e do outro da fronteira –, mas também por causa de suas atitudes cosmológicas opostas. Em nosso mundo mononaturalista oficial, nada há de comparável ao espaço que os mundos multinaturalistas extramodernos concedem aos seres de regimes ontológicos heterogêneos31. A tendência é que os Brancos “tolerem” os espíritos (no melhor dos casos), enquanto os indígenas incorporam os micróbios e os elétrons (se isto lhes convém).
Não é, então, por acaso que virtualmente todos os autores não indígenas que mencionam a necessidade da coexistência em “um mundo onde caibam muitos mundos” insistam sobre a grande dificuldade em obtê-la.
Cabe notar, além disso, que nesta árdua tarefa de articulação de um “mundo comum”, o lado indígena sempre parece pender para o polo do particular, e o lado branco para o polo do universal. Com efeito: como obter uma coexistência pacífica entre a universalidade absoluta dos elétrons e a singularidade absoluta desta ou daquela montanha andina, um tirakuna? O desafio que se põe para toda cosmopolítica é o de saber discernir com a máxima clareza os diferentes modos de existência destes seres, e as zonas de superposição e de conflito entre os mundos que eles pressupõem.
A agência dos seres mais-que-humanos nos mundos indígenas se manifesta em pelo menos dois contextos. Chamemos um de “política cósmica”, e o outro de “política ontológica” ou “ontologia política”. Por “política cósmica” entendemos as relações estabelecidas pelos xamãs com os representantes de outras subjetividades que habitam o mundo indígena: as formas personi”cadas de outras espécies, os elementos da paisagem, os espíritos dos mortos, os demônios e divindades várias, as metapessoas em geral. Essas relações integram a vida cotidiana dos coletivos, garantindo a segurança, a saúde e a fecundidade dos humanos e dos seres de que eles dependem.32 Trata-se aqui da “outra política” de que fala Kopenawa, ao contrastá-la com a linguagem hipócrita de uma política branca a serviço da economia ecocida da acumulação “primitiva”, isto é, da destruição de uruhi a, a floresta-mundo yanomami.
Essa política xamânica é explicitada como tal por Kopenawa no contexto de um afrontamento com uma variedade de humanos de duvidosa humanidade, a saber, os representantes do mundo capitalista, cujo aspecto sobrenaturalmente maligno requer a intervenção dos espíritos para ser controlado e combatido. A política é “outra coisa” quando se trata de falar politicamente aos Brancos. Pois o que está em jogo não é só uma outra concepção da política, mas uma outra experiência do cosmos. Personagens como a floresta viva dos Yanomami, o rio que é um irmão dos Krenak, as montanhas atentas à ação humana dos Quechua estão “em excesso” em relação aos seus correspondentes no mundo oficial dos Brancos. Em todos esses mundos, indígenas e brancos, há florestas, rios e montanhas; mas, em cada um desses mundos indígenas, aquela floresta não é apenas uma multidão de árvores, aquele rio é mais que água e peixes, aquela montanha é mais que um acidente geográfico – pois este povo pertence àquela floresta, este outro a tal rio, este outro àquela montanha. Os humanos e os outros-que-humanos existem mutuamente.33 E é em termos desse excedente ontológico que os seres do “ambiente” – em suma, a terra e o território, e tudo que ali existe – são mobilizados pelos povos indígenas na defesa de seus mundos contra o assalto dos Brancos com suas minas, suas barragens, suas mercadorias e seus projetos de desenvolvimento. Aqui, estamos no elemento da política ontológica, ou ontologia política;34 não se trata apenas, como na ecologia política “branca”, de examinar os conflitos em torno dos “recursos” de uma Natureza suposta como dada, mas de se situar no interior de um conflito mais profundo, aquele em torno da constituição do real e dos equívocos sobre as “mesmas” coisas: florestas, rios, montanhas. Como observa Jensen, comentando o trabalho antropológico de Marisol de la Cadena e Mario Blaser – ao qual se ao qual se deve acrescentar a contra-antropologia de Kopenawa, Krenak e outros pensadores indígenas,
Trata-se [aqui] de aceitar seres que fazem reivindicações reais sobre a
composição da realidade, mesmo se somos incapazes de compreender
tais seres e tais reivindicações. Isso significa reconhecer estes mundos
[…] como formando um “uncommons” constituído por realidades fortemente
divergentes mas copresentes. Os contornos da cosmopolítica
europeia mudaram.35
Exceto durante o breve intervalo das Luzes e do esforço então feito para banir os espíritos e espectros do mundo dos negócios humanos – esforço que não deixou de projetar uma enorme zona de sombra sobre os mundos extramodernos –, a esfera dita sobrenatural sempre fez parte da política no Ocidente europeu e cristão; em nosso dias, na verdade, ela tomou dimensões assustadoras, com o retorno de um Deus despótico a guiar as hordas cristofascistas que lutam pelo fim do mundo enquanto aguardam o Arrebatamento ou o Juízo Final. A questão, portanto, não se reduz à da inclusão ou não dos espíritos (e outras experiências fora da jurisdição das ciências experimentais)36 na esfera política, mas sim de discernir que tipo de espíritos servem a que tipo de humanos e vice-versa. Pois não é a condição abstrata de “sobrenaturalidade” que importa de um ponto de vista cosmopolítico, mas a que forma de vida humana suas diferentes manifestações estão associadas. A resposta nos leva, mais uma vez, à terra e ao território.37 Nos mundos indígenas, o agente espiritual maior é a Terra como princípio de antiprodução, isto é, de geração da Vida enquanto Espírito material. Contra o “espírito” do capitalismo, e contra o tempo capitalista como “medida do valor” – o tempo como essência da economia38–, é a espiritualidade ligada à Terra (ela própria e todos os espíritos da terra), ou seja, ao espaço, que melhor define a ontopolítica indígena. Isto implica uma outra ideia de materialidade (e uma outra idealidade da matéria), um materialismo “politeísta” ou “animista” – um animismo de combate e um materialismo sensível/sensato (sensible),39 contra o patriarcado racista, o Estado etnocida, e a propriedade privada capitalista.
Do proletariado ao planetariado
A emergência dos coletivos indígenas na cena política mundial é contemporânea dos deslocamentos de populações outras-que-brancas do Sul para o Norte, causados pela demanda de mão de obra barata e pelas crises sistêmicas do Antropo-Capitaloceno. A figura do indígena, como aquele que resiste em sua terra, é assim inseparável da figura do migrante, a outra face do mesmo indígena, mas depois que foi arrancado de sua terra. Os dois são um sintoma do fracasso do “projeto” civilizacional que associava desterritorialização e progresso, dominação da natureza e liberdade humana, e que terminou por suscitar uma mutação ecológica planetária, colocando a espécie em contradição com a Terra, isto é, em perigo de extinção.
A crise, talvez terminal, da base cosmotécnica desse projeto – a economia capitalista e as experiências socialistas que acreditaram superá-la utilizando as mesmas armas de destruição de mundos – é igualmente uma crise da ideia moderna do humano, tal como encarnada na figura do Homem Branco. Isto se manifesta na proliferação de criações conceituais como “outro-que-humano”, “mais-que-humano”, “pós-humano”, “transumano”, que assinalam a insuficiência do anthropos, sua heteronomia metafísica e, para alguns, sua obsolescência empírica.
As respostas a tal insuficiência se polarizam em uma alternativa cosmopolítica de amplitude máxima – uma “guerra de mundos” ou uma “guerra ontológica”.40 Em um polo, está o tecnofascismo trans-humanista, que trabalha por uma desterritorialização absoluta, apostando no extermínio das massas miseráveis, na expansão astrocolonialista e na transcendência tecnológica da condição animal da espécie. No outro polo, está o processo de absorção progressiva do proletariado internacional em um planetariado mundial enquanto devir-indígena atual ou virtual dos povos humanos em em seu acoplamento imanente com as potências terrestres – ou seu desacoplamento forçado pela espoliação territorial, a devastação ecológica e outras proezas da economia geopolítica do capitalismo.
Já há algum tempo, diversos pensadores-ativistas da esquerda, em particular aqueles ligados aos movimentos anti- ou pós-coloniais, vêm sublinhando os limites de uma crítica do capitalismo “neoliberal” fundada no conceito homogeneizante de classe social. As formas de subjetivação anticapitalista não derivam mais apenas da posição no processo de produção (a classe), mas se definem também, e cada vez mais, pela relação com a terra em sua dupla natureza de origem da vida e território de um povo, no sentido pluriétnico e extranacional: “parte substancial dos grandes lutadores e lutadoras contra o capitalismo não se organizam enquanto categoria de trabalho, mas sim enquanto povos”41. Esta observação do coletivo afro-indígena Teia dos Povos deve ser compreendida como refletindo uma compreensão ampliada dos grupos antagonistas do capital em sua “heterogeneidade irredutível” (Baschet). O conceito de povo é aqui tomado no mesmo sentido que o conceito zapatista de mundo: um povo onde caibam muitos povos. A transição de “classe” para “povos” se realizou de maneira paradigmática, e em larga medida antecipatória, no zapatismo, como está descrito por J. Baschet em A experiência zapatista. O mundo e o povo onde caibam muitos mundos e povos não são um mundo e um povo como aqueles que eles acolhem, mas uma certa relação entre eles, uma relação, precisamente, cosmopolítica: movente, instável, em constante negociação. Mundo e povo internamente múltiplos. O “povo que falta” é feito de povos.
É digno de nota que esses movimentos de reterritorialização – ou melhor, de desterritorialização na terra das massas oprimidas – por parte da esquerda revolucionária são acompanhados de uma reconcepção da relação ecoprática com a terra. Esta deixa de ser pensada segundo o paradigma lockeano como “pertencendo a quem a trabalha”; é preciso, antes, que quem a trabalha se submeta à exigência de cuidar dela como sua fonte e matriz. Antes que apropriar-se da terra, é preciso tornar-se apropriado a ela, pertencer a ela. Em lugar de se atribuir a qualidade de proprietário transcendente da terra, assumir a condição de atributo dela, de sua propriedade imanente. Tal conversão tem suscitado, em muitos casos, projetos de uma “transição agroecológica” e uma consciência crescente da catástrofe climática desencadeada pela tecnoeconomia capitalista. O planetariado mundial – indígenas, quilombolas, camponeses, proletários “externalizados” do quarto mundo, precariado
É digno de nota que esses movimentos de reterritorialização – ou melhor, de desterritorialização na terra das massas oprimidas – por parte da esquerda revolucionária são acompanhados de uma reconcepção da relação ecoprática com a terra. Esta deixa de ser pensada segundo o paradigma lockeano como “pertencendo a quem a trabalha”; é preciso, antes, que quem a trabalha se submeta à exigência de cuidar dela como sua fonte e matriz. Antes que apropriar-se da terra, é preciso tornar-se apropriado a ela, pertencer a ela. Em lugar de se atribuir a qualidade de proprietário transcendente da terra, assumir a condição de atributo dela, de sua propriedade imanente. Tal conversão tem suscitado, em muitos casos, projetos de uma “transição agroecológica” e uma consciência crescente da catástrofe climática desencadeada pela tecnoeconomia capitalista. O planetariado mundial – indígenas, quilombolas, camponeses, proletários “externalizados” do quarto mundo, precariado urbano, refugiados, migrantes, ZADistas de toda qualidade – tem como horizonte de luta as condições materiais de existência (outro nome para “ecologia”) de todos os seres vivos. Ele não se define por sua posição na estrutura da economia, mas pelas ameaças que pesam sobre os processos de geração da vida em todas as suas dimensões, isto é, sobre as condições de habitabilidade do planeta. Uma posição, então, contra a economia e as relações políticas que a instituem como “última instância” da vida social. Contra, em suma, a metafísica da produção.
A dinâmica histórica do mundo dominado pelo capitalismo consistiu, a partir da acumulação dita primitiva ou originária, em transformar os povos-com-terra (indígenas) definidos por sua imanência a um espaço concreto de vida, em indivíduos-sem-terra, isto é, em proletários, forçados a se reterritorializarem coletivamente sobre o tempo abstrato do trabalho. A espoliação do espaço preparou a exploração do tempo. O tempo devorou o espaço. Se a “descompressão temporal” é um objetivo estratégico do pós-capitalismo42, a “reconexão espacial”, ou intensificação qualitativa e local da relação com a terra, é o objetivo complementar. Para sair do capitalismo, é preciso fazer o tempo regurgitar o espaço.
A cosmopolítica, tal como definida em ato nas três fórmulas que o pensamento indígena nos propôs – sobre os conceitos de mundo, de humanidade e de política –, implica a decisão de explorar, no pensamento e na ação, todas as possibilidades de recomposição das dimensões materiais e espirituais da vida humana danificadas pela economia política do capitalismo, neste momento em que a marcha do progresso se aproxima do “muro energético do Capital”,43 e que as condições de habitabilidade da Terra se deterioram em ritmo crescentemente acelerado. Sair do capitalismo é retomar a Terra pela terra: parcela por parcela, lugar por lugar, zona por zona. Retomá-la, isto é, redescobri-la. Uma retomada que assuma a causa da terra e o sentido de povo usurpados pelos imaginários políticos dos fascismos e dos etnonacionalismos.
Enquanto houver tempo, e mundo o bastante.
- Seja o “comunismo de luxo” (Aaron Bastani, Comunismo de luxo totalmente automatizado, trad. Everton Lourenço com a colaboração de Melanie Castro Bohemer e Giuliana Almada. São Paulo: Autonomia Literária, 2023), seja o “comunismo de decrescimento” (Kohei Saito, Marx in the Anthropocene: Towards the Idea of Degrowth Communism. Cambridge: Cambridge University Press, 2022). ↩︎
- A frase zapatista aparece pela primeira vez na “Quarta declaração da selva lacandona”, lançada pelo EZLN em janeiro de 1996; ela assumirá um sentido propriamente cosmopolítico nas décadas seguintes. Ver Jérôme Baschet, A experiência zapatista: rebeldia resistência autonomia, trad. Domingos Nunez (São Paulo: n-1 edições, 2018, p. 284). A pergunta de Krenak se acha em seu Ideias para adiar o fim do mundo (São Paulo: Companhia das Letras, 2019, p. 12.) A observação de Kopenawa está em A queda do céu. Palavras de um xamã yanomami, trad. Beatriz Perrone-Moisés (São Paulo: Companhia das Letras, 2015, p. 390). Omama é o demiurgo yanomami, e os xapiri são os que chamaríamos de “espíritos da floresta”. ↩︎
- Yuk Hui, “Cosmotechnics as Cosmopolitics”, e-“ux Journal, n. 86, novembro 2017. ↩︎
- Major Ana María do EZLN apud Jérôme Baschet, A experiência zapatista, op. cit., p. 284. ↩︎
- Antônio Bispo dos Santos, A terra dá, a terra quer. São Paulo: Ubu, 2023. ↩︎
- “Metapessoas”: Marshall Sahlins, The New Science of the Enchanted Universe. An Anthropology of Most of Humanity. Princeton: Princeton University Press, 2022. ↩︎
- Para uma discussão aprofundada sobre a relação entre “Terra” e “Mundo”, ver Patrice Maniglier, Le philosophe, la Terre et le virus. Bruno Latour expliqué par l’actualité (Paris: Les Liens qui Libèrent, 2021) e Étienne Balibar e Patrice Maniglier, La Terre ou le Monde. Divergences cosmopolitiques (Paris: Mialet-Barrault, 2025). ↩︎
- Esses povos são o correlato humano da noção de zona crítica, expressão que designa a “”na camada planetária” onde se desenvolve a vida (Bruno Latour e Peter Weibel (orgs.), Zones critiques: la science et la politique de l‘atterrissage sur Terre. Karlsruhe: ZKM; Cambridge, MA: $e MIT Press, 2020). Eles são como uma “”na camada demográ”ca” (6% da população humana) que colabora para a continuidade da vida terrestre: povos críticos, portanto. ↩︎
- Subcomandante Marcos apud Jérôme Baschet, A experiência zapatista, op. cit., p. 239. ↩︎
- Ver Kristin Ross, #e Commune Form: #e Transformation of Everyday Life (Londres: Verso, 2024), para a descrição de algumas dessas formas. ↩︎
- A noção evolucionista de “pré-política” é desenvolvida no livro de Eric Hobsbawn, Rebeldes primitivos: estudo sobre as formas arcaicas de movimentos sociais nos séculos XIX e XX, trad. Berilo Vargas (São Paulo: Companhia das Letras, 2025). A noção de “alterpolítica” deve-se a Ghassan Hage, Alter-Politics: Critical Anthropology and the Radical Imagination (Melbourne: Melbourne University Press, 2015). ↩︎
- Como indicado no “Prólogo”, a versão original deste capítulo foi escrita para o
Dictionnaire des mondes post-capitalistes. ↩︎ - É assim, de resto, que o weltbürglicher do ensaio seminal de Kant foi traduzido para o inglês, o espanhol e o português (Ideia de uma história universal de um ponto de vista cosmopolita, trad. Ricardo Terra e Rodrigo Naves. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2010). As traduções francesas, ao contrário, optam quase sempre por “cosmopolitique”. Kant utiliza igualmente os adjetivos kosmopolitisch, ius cosmopoliticum em outros textos. ↩︎
- Saltamos por cima, por falta de espaço e sobretudo de competência, de um evento crucial do ponto de vista das ideias modernas de cosmopolitismo, a saber, a mobilização da teologia política do tomismo ibérico na célebre controvérsia de Valladolid em torno da natureza e condição da humanidade do Novo Mundo. ↩︎
- Convém excluir deste juízo a reflexão de Étienne Balibar, Cosmopolitique: des frontières à l’espèce humaine (Paris: La Découverte, 2022), que se desenvolve dentro de uma problemática do internacionalismo, e sobretudo a de Patrice Maniglier, “Citizens of the Earth. Rethinking Cosmopolitanism in a Planetary Age” [in Panagiotis Roilos (org.), Technology and Democracy: #e Age of the Posthuman (no prelo)], onde o cosmopolitismo é repensado à luz do conceito de “Planetário” de Dipesh Chakrabarty (#e Climate of History in a Planetary Age. Chicago: Chicago University Press, 2021), e onde a questão da cidadania dos não-humanos é discutida. ↩︎
- Um exemplo, não um modelo – ver aqui o capítulo 4, “Modelos e exemplos” ↩︎
- John Law, “What’s Wrong With a One-World World?”, Distinktion, v. 16, n. 1, 2015, pp. 126-39. ↩︎
- Casper B. Jensen, “Practical Ontologies Redux”, Berliner Blätter, v. 84, 2021, pp. 83-124. ↩︎
- Isabelle Stengers, Cosmopolitiques. Paris: La Découverte, 2022. ↩︎
- Outras destas vozes é a da importante “lósofa ecofeminista Val Plumwood, Environmental Culture: #e Ecological Crisis of Reason. Londres: Routledge, 2002. ↩︎
- Bruno Latour deu ao termo cosmopolítica, emprestado de Stengers, uma inflexão
distinta, mas igualmente centrada em uma análise do papel que uma certa concepção do lugar da ciência e uma certa concepção de natureza desempenharam na instituição da ordem política da modernidade. ↩︎ - Bruno Latour, Jamais fomos modernos: ensaio de antropologia simétrica, trad. Carlos Irineu da Costa. São Paulo: Ed. 34, 1991. ↩︎
- Para a noção de Vida com v maiúsculo, o clado ou ramo que inclui todos os seres vivos existentes, distinta da vida como a classe das propriedades comuns aos seres vivos, ver Timothy Lenton, Sébastien Dutreil e Bruno Latour, “Life on Earth is Hard to Spot”, The Anthropocene Review, v. 7, n. 3, 2020, pp. 248-272. ↩︎
- Para a noção de uma “economia política da natureza” como alvo da crítica indígena, ver o artigo fundamental de Bruce Albert, “L’or cannibale et la chute du ciel. Une critique de l’économie politique de la nature”, L’Homme, n. 126-128, 1993, pp. 349-378. ↩︎
- O “pluriverso” de William James é recorrente na pena dos autores que trabalham com o conceito de cosmopolítica (Latour, Jensen, de la Cadena, Blaser, Escobar, Savransky, Stengers, Debaise). Ver, por exemplo, a coletânea recente de Didier Debaise e Isabelle Stengers (orgs.), Au risque des e$ets: une lutte à main armée contre la Raison? Paris: Les liens qui libèrent, 2023. ↩︎
- Marisol de la Cadena e Arturo Escobar, “Notes on Excess: Towards Pluriversal Design”, in Martín Tironi, Marcos Chilet, Carola Ureta Marín e Pablo Hermansen (orgs.), Design for More-#an-Human Futures (Londres; Nova York: Routledge, 2025, pp. 29-50). Citado em Casper B. Jensen, “Introduction: Southern Anthropocenes”, in C. Jensen (org.), Southern Anthropocenes (Londres; Nova York: Routledge, 2025). ↩︎
- Isabelle Stengers, “Including Nonhumans in Political $eory: Opening Pandora’s Box?”,in Bruce Braun e Sarah Whatmore (orgs.), Political Matter: Technoscience, Democracy, and Public Life. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2010, pp. 3-33. ↩︎
- Para o contraste entre a categoria da “produção” da economia política (e da crítica da economia política) e o “engendramento” cosmopolítico, ver Bruno Latour, Onde aterrar? Como se orientar politicamente no Antropoceno, trad. Marcela Vieira (Rio de Janeiro: Bazar do Tempo, 2020), bem como a elaboração deste conceito em Émilie Hache, De la génération. Enquête sur sa disparition et son remplacement par la production (Paris: La Découverte, 2024). Para uma proposta de substituição do conceito de “modo de produção” pelo de “modo de troca”, ver o ensaio, de explícita “liação marxista, de Kojin Karatani, The Structure of World History, trad. Michael Bourdaghs (Durham: Duke University Press, 2014). A relação possível entre troca e engendramento resta por elaborar – provavelmente ao arrepio dos proponentes de ambos os conceitos. E resta, não menos, saber se seria possível (e desejável) preservar a categoria da produção, reformulando-a em um sentido “não produtivista”, isto é, não capitalista e não antropocêntrico. É o que tentaram fazer, como se sabe, Deleuze e Guattari em O anti-Édipo (mas ver E. Viveiros de Castro, Metafisicas canibais: elementos para uma antropologia pós-estrutural. São Paulo: Cosac Naify, n-1 edições, 2015). ↩︎
- Davi Kopenawa e Bruce Albert, A queda do céu: palavras de um xamã yanomami, trad. Beatriz Perrone-Moisés (São Paulo: Companhia das Letras, 2015); Marisol de la Cadena, Seres-terra: cosmopolíticas em mundos andinos, trad. Caroline Nogueira e Fernando Silva e Silva (Rio de Janeiro: Bazar do Tempo, 2024). ↩︎
- Dominiq Jenfrey, “Entretien avec Isabelle Stengers sur Cosmopolitiques”, Les Temps qui Restent [on-line], n. 2, 13 julho 2024. ↩︎
- Este ponto “ca claro quando se pensa na decisão do movimento zapatista de acolher as ciências modernas como indispensáveis à construção de um mundo pós-capitalista (Baschet, A experiência zapatista, op. cit., pp. 306-310). ↩︎
- A expressão “política cósmica” surgiu no contexto de uma caracterização das cosmologias multinaturalistas da Amazônia indígena. O contraste visado era com o multiculturalismo como “política pública” de alguns estados modernos. Ver Eduardo Viveiros de Castro, “Os pronomes cosmológicos e o perspectivismo ameríndio”, Mana, v. 2, n. 2, 1996, pp. 115-144. Essa política cósmica, a verdadeira “política externa” indígena, que trata com os espíritos, deve ser distinguida, ao menos parcialmente, da esfera das relações interpessoais e intercomunitárias, isto é, da “política humana” (“interna”), organizada em torno dos laços de parentesco e de aliança, da troca e da guerra. Ver Bruce Albert, “L’or cannibale et la chute du ciel”, op. cit. ↩︎
- Esse argumento é desenvolvido por Marisol de la Cadena em “Indigenous Cosmopoliticsin the Andes: Conceptual Re!ections Beyond ‘Politics’”, Cultural Anthropology, v. 25, n. 2, 2010, pp. 334-370, e em Seres-terra, op. cit. ↩︎
- Ver Mario Blaser e Marisol de la Cadena, “Introduction: Pluriverse”, in M. de la Cadena e M. Blaser (orgs.), A World of Many Worlds (Durham: Duke University Press, 2018), onde se propõe a noção de um “uncommons”, e Mario Blaser, For Emplacement: Political Ontology in Two Acts (Durham: Duke University Press, 2025). ↩︎
- Casper B. Jensen, “Introduction: Southern Anthropocenes”, op. cit. Para a noção de“contra-antropologia”, ver Jean-Christophe Goddard, Ce sont d’autres gens: contreanthropologies décoloniales du monde blanc (Marselha: Wildproject, 2024). ↩︎
- Como observou Godfrey Lienhardt (Divinity and Experience: #e Religion of the Dinka. Oxford: Clarendon Press, 1961), a divindade não é um ser, mas uma experiência. Alternativamente, podemos dizer que a experiência humana dos espíritos precede sua existência, o que não torna a realidade destes menos tangível. A existência dos espíritos, por sua vez, explica a experiência humana; o efeito causa a causa. ↩︎
- Joelson Ferreira e Erahsto Felício, Por terra e território: caminhos da revolução dos povos no Brasil (Arataca: Teia dos Povos, 2021); Antônio Bispo dos Santos, A terra dá, a terra quer, op. cit. ↩︎
- “Economia de tempo: é a isto que, em última análise, se reduz toda economia” (Karl Marx, Grundrisse, citado por Christopher Bracken, Magical Criticism. Chicago: The University of Chicago Press, 2007, p. 22). ↩︎
- Donna Haraway, Ficar com o problema: fazer parentes no chthluceno, trad. Ana Luiza Braga (São Paulo: n-1 edições, 2023, p. 158). Ver as observações de Didier Debaise e Isabelle Stengers, Au risque des effets, op. cit., p. 42. ↩︎
- Bruno Latour, War of the Worlds. What About Peace?, trad. Charlotte Bigg, John Tresch (org.) (Chicago: Prickly Paradigm Press, 2000); Mauro Almeida, Caipora e outros conflitos ontológicos (São Paulo: Ubu, 2021). ↩︎
- Joelson Ferreira e Erahsto Felício, Por terra e território, op. cit. p. 164. ↩︎
- Como proposto por J. Baschet no verbete “Temporalités”, in Jérôme Baschet e Jean Pierre Laurent (org.), Dictionnaire des mondes postcapitalistes/Dictionary of Postcapitalist Worlds. Paris: La Découverte (no prelo). ↩︎
- Sandrine Aumercier, Le mur énergétique du capital: contribution au problème des critères de dépassement du capitalisme du point de vue de la critique des technologies. Albi: Éditions Crise & Critique, 2021. ↩︎