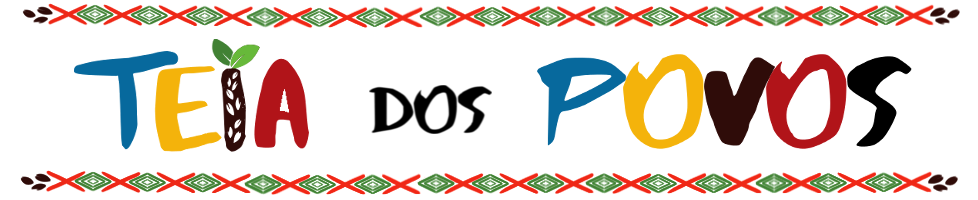Não há alternativa ao colapso climático dentro do capitalismo
Maikel da Silveira1 e Rafael Saldanha2
“Uma ferramenta de recrutamento”: é assim que a portuguesa Mariana Rodrigues e o turco Sinan Eden, definem All in: uma teoria revolucionária para interromper o colapso climático, livro no qual sintetizam experiências acumuladas na luta para conter o aumento da temperatura do planeta, identificam pontos cegos, e defendem um ponto de vista que deveria ser óbvio, mas que, por uma série de motivos, parece não ser: a emergência climática é a maior ameaça do nosso tempo e ela está intimamente relacionada ao capitalismo, portanto, a superação do capitalismo é uma tarefa urgente para todos aqueles que lutam por justiça social, emancipação ou autonomia, para todos que lutam contra o patriarcado, o racismo ou a xenofobia. Sem uma transformação radical do modo de produção, em pouco tempo, todas as lutas correm o risco de perder o chão. Daí a importância do chamado dos autores para uma articulação global e consistente entre organizações e movimentos sociais do mundo todo, tendo a emergência climática como parâmetro, a superação do capitalismo como horizonte e a urgência critério para a ação.
Embora profundamente atravessado pelo contexto europeu, no qual os autores atuaram a maior parte de suas vidas, a proposta defendida por eles tem tudo para encontrar ressonância em todo canto do globo, afinal, tanto o capitalismo quanto a emergência climática, que ele produziu, afetam a todos globalmente. Mas, como sabemos, não afeta a todos igualmente. Embora compartilhemos, todos, do mesmo planeta, sabemos que neste planeta cabem muitos mundos e que anos de exploração colonial e neocolonial criaram abismos socioeconômicos, culturais e tecnológicos entre o norte e o sul global. Ainda que nas últimas décadas, com a rápida sucessão de crises financeiras, a imposição cada vez mais rigorosa de políticas de austeridade fiscal, e o aumento da precarização e do desemprego em muitos países do norte global, combinada à superexploração do trabalho, a intensificação da exploração de matérias-primas e a expansão do agronegócio nos países do sul, a distância entre esses mundos tenha diminuído um pouco, seria tolice imaginar que ela deixou de existir. Por mais que estejamos todos no mesmo barco, sem dúvida, alguns ocupam cabines mais confortáveis que outros às portas do naufrágio.
Essa distância entre os mundos – uma distância que pode ser pensada tanto em termos geográficos quanto históricos – é um dos desafios que toda articulação de caráter internacionalista estará fadada a enfrentar. O ponto positivo, no caso da turma do All In, é que eles estão cientes disso. Como dissemos no começo, estamos falando de uma “ferramenta de recrutamento”, não de uma cartilha. Nas pouco mais de 180 páginas do livro, não encontraremos um manual para interrupção do colapso climático, mas uma convocação, um apelo. Tampouco somos apresentados a um caminho, mas convidados a produzir confluência entre caminhos diversos e diversas formas de luta.
É com isso em mente que os camaradas do All In têm conversado com militantes de diversas organizações na América Latina, nos últimos meses. Num contexto marcado por tantas emergências – ascensão da extrema-direita, investidas cada vez mais cínicas do imperialismo estadunidense, queimadas criminosas e superexploração de “recursos naturais” em nome do crescimento econômico que beneficia cada vez menos gente –, como dar à emergência climática a devida importância? Como fazer que nossas lutas – e são muitas – não só não percam essa de vista, mas, quem sabe, passem a se organizar em torno dela?
Acreditamos que alguns episódios recentes podem nos ajudar nesse esforço de “tradução” das ideias defendidas pelos autores de All In para o contexto latino-americano.
O argumento da urgência
A urgência é dada pela ameaça do colapso climático, cada vez mais presente à medida corporações e governos – governos, muitas vezes, submissos aos interesses de corporações transnacionais – adiam medidas consideradas fundamentais para conter o aumento da temperatura do planeta (por exemplo: parar imediatamente de explorar, produzir e queimar combustíveis fósseis) e suas consequências mais nefastas.
Sabemos que cada luta tem seu próprio tempo e contexto. Mas sabemos também – ou deveríamos saber – que as mudanças climáticas podem estar chegando a um ponto irreversível. Precisamos encarar o fato de que em três anos podemos chegar ao ponto em que as mudanças climáticas tenham alcançado a um ponto de não retorno, no qual as condições que tornam possíveis a vida humana na terra, tal como estamos acostumados, se tornarão impossíveis. O que confere urgência à questão climática no rol das ameaças humanitárias do nosso tempo é precisamente isso, esse limite a partir do qual já não será mais possível reverter o colapso. Já estamos sentindo os efeitos dessas mudanças: aumento de eventos climáticos extremos (como furacões, secas, enchentes), alteração dos ciclos que regulam a agricultura e comprometem a capacidade de produzir alimentos. As consequências sociais dessas mudanças já começam a ser sentidas em algumas partes do mundo, com aumento de migrações (sobretudo internas, mas também entre fronteiras) e de revoltas provocadas pela escassez de comida. Caso não consigamos reverter a tempo, esses efeitos tendem a piorar, se tornando ainda mais instáveis.
A urgência colocada pela crise climática, portanto, atropela o tempo dos processos de luta nos quais muitos de nós, sobretudo à esquerda do espectro político, estamos envolvidos. À primeira vista, pode até parecer que sucumbir à demanda de urgência seja uma forma de se deixar sobredeterminar por um problema externo à luta. Mas não é assim tão simples. Os efeitos da crise climática já estão afetando o campo político. Se não inserimos em nossos cálculos estratégicos os possíveis efeitos do colapso climático é possível que nos peguemos, de repente, sem chão. Por mais que as lutas tenham seu tempo, é importante — ainda que difícil — nos interrogarmos de que forma a mudança climática afeta nossas lutas. Por exemplo, quando a escassez de alimentos se acelerar, quando as enchentes e as secas se multiplicarem, será que vai dar pra seguir lutando da mesma forma? É por essa razão que a aceitação dessa urgência é um elemento fundamental para pensar qualquer tipo de luta que busque construir um mundo mais justo. Isso não significa que todas as lutas enfrentaram esse problema da mesma maneira. Cada organização ou movimento deve ser capaz de avaliar, a partir de sua situação, como será impactado e que ajustes estratégicos será preciso fazer para seguir lutando – e, esperamos, para vencer. O ponto central é o seguinte: interromper esse processo de mudança climática é, hoje, um central fundamental para todo tipo de luta que aspira construir um outro mundo.
A busca por lutas ou conflitos com potencial de ruptura
A necessidade de ruptura tem a ver com a clareza acerca da relação inextricável entre o colapso climático e capitalismo, a clareza de que não dá evitar um sem superar o outro, a clareza de que, se queremos uma transição, precisaremos de uma boa dose de intransigência.
Não existe solução para a crise climática no interior do capitalismo, até porque a hegemonia global do modo de produção capitalista está na origem dessa crise. A exploração de pessoas no ao redor do mundo pelo capitalismo vem acompanhada de uma destruição do meio ambiente. Isso significa que qualquer tipo de reversão desse processo nos obriga a transformar esse sistema. Uma postura anticapitalista é, portanto, imprescindível. Por outro lado, como estamos diante de um momento de urgência, também não podemos achar, que temos todo tempo do mundo para construir a transição para outro sistema, que podemos simplesmente esperar que o capitalismo morra por conta própria e que basta estarmos preparados para quando isso acontecer.
Diante desse limite de reversibilidade da mudança climática, os camaradas do All in entendem que devemos adotar uma postura de ruptura, pois não há qualquer expectativa nem de mudá-lo por dentro (pela via eleitoral) e nem de sobreviver ao capitalismo (pela construção de comunidades à margem do capitalismo). Essa postura acaba, portanto, operando um filtro para identificar aqueles movimentos sociais e organizações políticas que estão pensando da mesma maneira. Não significa que não se deve ter relação com movimentos ou organizações políticas que investem nessa linha, nem que se deve abdicar de ter relações com atores políticos que circulam nesses espaços. O importante é que não se deve perder de perspectiva que não temos tempo para experimentar esses outros dois caminhos.
Mas nesse ponto não devemos nos esquecer de algo fundamental: a exploração e as formas de violência que esse sistema produz são sempre problemas urgentes para quem está na linha de frente da opressão. A ruptura com o capitalismo já é do interesse das massas populares, visto que são as suas vidas que são as mais exploradas para gerar riqueza para determinados grupos. Olhando dessa forma, a urgência deixa de ser apenas um problema externo, mas pode funcionar também como algo que conecta diferentes lutas que já são radicais e já entendem como qualquer segundo a mais de exploração já é tempo demais.
A importância do senso de oportunidade
dominó. Essa percepção é relevante por dois motivos, pelo menos: por um lado, nos ajuda a combater a ideia de que o capitalismo é insuperável, de que ele funciona como um reloginho, com todas suas peças operando em perfeita sincronia. Não. O capitalismo é caótico e nesse caos residem tanto sua força – a de nos confundir, a de parecer consistente e mais forte do que é – quanto sua fraqueza – nem os capitalistas sabem exatamente de onde virá a próxima crise, só sabem que virá. Nós, enquanto anticapitalistas, precisamos ter essa consciência também e nos preparar para explorar pontos fracos, falhas estruturais, conflitos de interesses. É nesse sentido que precisamos ser oportunistas. Onde estão as lutas capazes de abalar o sistema? Como apoiá-las? Como estimulá-las? Como fortalecê-las? E, importante, como não abandoná-las, como criar relações de cooperação entre lutas, movimentos e organizações?
Há uma compreensão bastante clara, por parte dos autores de All In, de que um dos caminhos para encararmos o capitalismo, em sua monstruosidade, é nos conectarmos a lutas que já estão ocorrendo ou que tem potencial para irromper. Já existem conflitos ou pontos de tensão na realidade social que podem nos levar mais próximo dos nossos objetivos. Podemos enumerar alguns exemplos, desde ações diretamente ligadas à questões ecológicas (como ações contra megaprojetos energéticos) até ações voltadas para o plano político (como as revoltas de juventude que tem acontecido pelo sudeste asiático). O que interessa, no entanto, é entender quais pontos de tensão têm mais potencial de ruptura. E não existe uma resposta para isso única, já que apenas aqueles ligados às diferentes regiões do mundo podem avaliar (melhor) quais lutas tem esse potencial maior de gerar instabilidade.
Sabemos, no entanto, que a instabilidade gerada pela ruptura não conduz necessariamente a um mundo mais justo. Muitas vezes, o que se se vê é justo o oposto: mais violência, mais repressão e até um fortalecimento de forças conservadoras como resposta para a instabilidade social e política. Na década de 2010, algo semelhante aconteceu no Brasil, mas também na primavera árabe, na Turquia, em vários lugares. Esse trabalho de procurar pontos de conflito e tensão, portanto, deve vir acompanhado de consideração acerca das condições de possibilidade para a sustentação de nossas revoltas. É preciso saber contribuir para que os que começam uma luta tenham condições de sustentar e garantir a continuidade dessas lutas. É nesse sentido que entendemos que esse esforço por buscar as melhores oportunidades ou “pontos de conflito” envolve também uma aproximação de movimentos sociais e organizações, uma postura mais de retaguarda que de vanguarda. Temos como exemplos dessas práticas nos movimentos por terra e nas lutas contra exploração de trabalho que criam junto com as lutas redes de cooperação e de apoio comunitário. Enfatizamos esse ponto pois para muitos (inclusive nós, os autores dessa apresentação) a ideia de simplesmente estimular revoltas que produzam instabilidade traz lembranças ruins (além de uma tremenda irresponsabilidade com aqueles que serão os principais alvos de qualquer escalada de violência). É por essa razão que entendemos que a proposta do ambientalismo radical dos povos serve como um modelo interessante para o tipo de postura que a situação demanda.
Outra lição que devemos lembrar, sobretudo da perspectiva da América Latina, é que existem inúmeros grupos e camaradas radicais já envolvidos na luta dentro do Estado. Isso faz parte de um processo histórico em que inúmeros movimentos sociais começaram a integrar governos de esquerda e centro-esquerda. Isso não significa que o Estado apoia a ruptura. Existem inúmeros elementos do Estado que são inequivocamente violentos contra o povo (a violência contra as populações negras no Brasil é uma ação feita a partir do Estado). Apesar disso — nos obrigando a enfrentar contradições que não podem ser simplesmente ignoradas — será muito difícil não encontrar no caminho grupos ou camaradas que apostam na via do Estado, pois as suas próprias ações também acabam demonstrando uma ambiguidade entre uma aposta de transformação que é por meio do Estado e uma que usa determinados aparelhos do Estado para a luta.
A articulação em nível global
A quarta palavra-chave que destacamos é globalização. Poderíamos falar em internacionalismo, mas acreditamos que a história e a potencial ambivalência que a palavra globalização carrega pode ser útil para apresentar o argumento dos autores de All In. Sabemos que foi sob a bandeira – ou sob a desculpa – da globalização que, sobretudo dos anos 90, em seu ápice, a chamada “cartilha neoliberal” se espalhou pelo globo, desmantelando garantias trabalhistas, reduzindo o poder dos governos para gerir economias nacionais, privatizando bens comuns e “criando mercados”. Sabemos, também, que o movimento antiglobalização – em sua relação umbilical com os protestos de Seattle e com as primeiras edições do Fórum Social Mundial – foi um dos últimos movimentos de caráter internacionalista que vimos surgir com força à esquerda do espectro político. A criação de um movimento desse tipo é uma das ambições declaradas dos “recrutadores” do All In. E essa ambição está relacionada à convicção de que um sistema globalizado precisa de uma resistência globalizada. Está relacionada, também, à percepção de que o mundo que tomou forma nos anos 1990 limitou, sim, e muito, a capacidade da maior parte dos Estados-Nação para exercer plenamente sua soberania, uma vez que os governos – por mais à esquerda que fossem – se viram pequenos diante do poder do capital financeiro, das corporações transnacionais, das big techs e – e isso é especialmente evidente no momento atual – da aliança desses diversos atores com algumas potências imperialistas (o que são os Estados Unidos de Trump hoje, se não isso, numa versão sem máscaras?).
Um Estado-Nação fraco não deixa de ser, no entanto, um Estado-Nação – ainda que sua força resida quase que exclusivamente na burocracia e/ou no poder de repressão. Embora impactados globalmente pelo capitalismo e pela crise climática, estamos sempre mais ou menos ligados ou submetidos a um país, submetidos às suas leis (ou à falta delas) ou às suas forças policiais/militares. Muitas das nossas ações políticas, portanto, acabam contidas pelos limites das fronteiras nacionais.
Esse é um dos maiores desafios para uma resistência uma luta que se proponha internacionalista: entender como podemos coordenar ações de maneira global. Isso não é um problema novo. Assim como não se trata de construir lutas do nada, também não se trata de simplesmente inventar articulações internacionais. Sabemos que existem várias redes que já congregam inúmeros militantes e organizações políticas do campo de esquerda mais radical (da Via Campesina ao Foro de São Paulo…). Entender essas redes, verificar quais tem mais capacidade de nos aproximar dos nossos objetivos também é parte da tarefa. Mas os problemas que o livro All in levantam ajudam a ter um pouco mais clareza sobre os desafios específicos que vamos enfrentar.
Estarmos atentos ao caráter “global” do movimento implica aprender o que significa coordenar entre grupos que não apenas vêm de contextos de lutas diferentes e realizam enquadramentos diferentes das formas de dominação, como também as próprias perspectivas emancipatórias podem divergir (nem todas assumem uma forma explicitamente anticapitalista).
Como fazer?
Concordar sobre o que fazer é, muitas vezes, bem mais fácil de concordar sobre como fazer. Uma das palavras mais recorrentes no discurso dos movimentos e organizações de esquerda nos últimos anos é fragmentação. É raro o militante que não tenha se deparado, muito mais de uma vez, com lamentações do tipo “o que a esquerda precisa é se unir” ou “o que nos aproxima é maior do que o que nos afasta”. Superar essa dificuldade, no entanto, é bem mais difícil que reconhecê-la. Até porque, não raro, os apelos à união das esquerdas são muito mais um apelo à adesão a um determinado ponto de vista, ou alinhamento ideológico, do que a uma construção efetivamente coletiva. Quando recorrem ao conceito de ecologia dos movimentos os autores de All In parecem ter isso em vista. Quando não apresentam um manual, mas recrutam pessoas para pensar junto, a partir do desafio que temos diante de nós, o que eles buscam é somar forças e não unificar um campo. Dessa perspectiva, diversidade é, também, força. Isso não quer dizer, no entanto, que vale tudo. Nem toda luta contribui para a luta contra o capitalismo e o colapso climático. Mas muitas lutas podem fazer isso. É nessas que devemos colar, são essas que devemos apoiar, é com essas que devemos compor.
Para fazer isso, no entanto, é imprescindível compreender como a resistência global se desdobra localmente da melhor forma. Por exemplo: existem diferenças gritantes entre o contexto da luta campesina na América Latina e na Europa. É possível que a importância dos povos originários para a luta contra o colapso climático não seja apreendida da mesma forma por um alemão e por um brasileiro, por um francês e por um boliviano, por um inglês e um venezuelano. O mesmo vale para a luta pela terra. Num país como o Brasil, marcado pelo latifúndio – ou, como certas pessoas preferem hoje, pelo agronegócio – a reforma agrária tem potencial disruptivo. A defesa das florestas, igualmente, pode implicar em perspectivas bastante distintas. Uma verdadeira coordenação internacional entre movimentos e organizações deverá ser capaz de levar isso tudo em conta.
Outro aspecto importante é que o capitalismo, hoje, se parece cada vez mais com seus primórdios. E não só porque o imperialismo parece ter voltado “à moda”, mas porque a queda na taxa de lucro, nos últimos anos, tem feito muitos capitalistas recorrerem à boa e velha (para eles) “acumulação primitiva” – ou, para usar o termo de David Harvey, à acumulação por espoliação. Se aproveitar de legislações mais flexíveis (ou fazer lobby e corromper governos para flexibilizar legislações) é uma forma muito eficiente de intensificar, no sul global, a exploração de recursos naturais muitas vezes esgotados no norte. Ao mesmo tempo, o desemprego estrutural, a pobreza, miséria das populações do sul global muitas vezes as torna mais suscetíveis à promessa de desenvolvimento econômico que sempre vem atrelada à exploração das “riquezas naturais” na periferia do capitalismo – nas neocolônias, nos países em desenvolvimento, chamem como preferirem…
Não dá pra pensar em justiça climática sem pensar, também, em justiça social. Qualquer movimento de caráter internacionalista que tenha em seu horizonte se converter em um movimento de massas, única forma de realmente fazer frente ao capitalismo globalizado, vai precisar compensar alguns desequilíbrios. Ou, para falar com o filósofo Olúfẹ́mi O. Táíwò, vai precisar fazer algumas reparações.
Táíwò descreve o sistema que emergiu do colonialismo como um “império racial global”, uma ordem político-econômica mundial em que raça e poder foram entrelaçados na distribuição desigual de recursos, oportunidades e vulnerabilidade. A ideia de “reparação”, que ele tira do movimento negro norte-americano, sobretudo, e aplica ao contexto da mudança climática, é desmantelar esse império e reorganizar as estruturas institucionais globais de maneira justa, o que implica: repensar o papel das nações ricas na crise climática; criar novos mecanismos de governança e solidariedade internacional; investir na autonomia política e material do Sul Global. Embora Táíwò tenha em vista a relação entre Estados, acreditamos que essa perspectiva pode ser levada em conta na relação entre organizações e movimentos do norte e do sul global. Para que seja possível uma coordenação internacional de movimentos, é importante o sul global se veja representado não só por um ou outro militante, mas que exista, por parte da coordenação, um esforço para reduzir distâncias econômicas e simbólicas no interior do coletivo. Ao mesmo tempo, é importante que a coordenação internacional, muitas vezes, saiba se posicionar mais como retaguarda que como vanguarda na relação com outros movimentos, dando suporte logístico, financeiro, tecnológico, etc., mais do que liderando.
Acreditamos que seria um erro, no entanto, se os movimentos e organizações do sul global simplesmente recusassem a cooperar com os camaradas do norte que estão realmente dispostos a lutar e querem vencer, mesmo que isso signifique abrir mão do protagonismo. A certa altura do livro, Mariana e Sinan fazem um argumento bem direto nesse sentido: “nós é que temos os passaportes e os vistos para chegar às metrópoles do imperialismo”. E, sim, esse é um exemplo de por que esse tipo de cooperação pode ser útil para nossas lutas. Existe, sim, uma aliança internacionalista possível a ser feita entre “os condenados da terra”, para falar com Frantz Fanon. Uma aliança possível entre as vítimas da necropolítica e do desemprego estrutural, entre os imigrantes ilegais e os moradores das periferias de grandes cidades, entre os trabalhadores precarizados e os trabalhadores sem terra. Para que isso seja possível, no entanto, é preciso que alguns sejam capazes de abrir mão de algumas coisas e, outros, de receber sem perder a dignidade.
No mês de março, vai acontecer um seminário online “Tudo Ou Nada: América Latina e a luta anticapitalista pelo clima”, que visa discutir as propostas do livro “All In: uma teoria revolucionário para interromper o colapso climático” no contexto latino-americano. O evento contará com duas frentes, uma em português, voltada para o público brasileiro, e outra em espanhol, aberta a todo público de língua espanhola. As inscrições são gratuitas e deve, ser feitas, preferencialmente, em trios (de pessoas da mesma organização ou movimento, da mesma região ou com os mesmos interesses temáticos). Mais informações aqui:https://all-in.now/event/seminario-online-tudo-ou-nada-1-o-livro-all-in-o-contexto-historico/.
- Maikel da Silveira é jornalista, psicanalista e doutor em filosofia pela PUC-Rio. Trabalha atualmente como editor na Editora Machado, no Rio de Janeiro, e é militante do Espaço Comum de Organizações (ECO) ↩︎
- Rafael Saldanha é militante do Espaço Comum de Organizações (ECO) no Rio de Janeiro e professor de filosofia na PUC-Rio. ↩︎