
por Flávia Almeida Pita; Hudson Silva dos Santos; José Raimundo Oliveira Lima
A construção de alianças capazes de revolucionar o mundo que vivemos parece, à primeira vista, uma missão impossível. O inimigo comum, representado pela lógica do capital que subordina, explora e destrói, transformando tudo em mercadoria, alimenta-se, aliás, desta ideia, que faz parecer ridícula a própria capacidade humana de sonhar por um mundo melhor.
O que chamamos de economia popular e solidária pretende por essa impossibilidade em questão. Primeiro, porque coloca em xeque a própria ideia do que é revolução. Depois, porque aposta em um saber acumulado de lutas populares que, ao longo dos últimos séculos, confrontaram o “moinho satânico” do capitalismo (Polanyi, 2000), mantendo vivos não apenas seus corpos (o que já é muito!), mas jeitos de sentir e conviver entre si e com a natureza de que fazemos parte. Concordamos com a Teia dos Povos, assim, quando lembra que “o que estamos fazendo agora não é algo novo”, a construção da “aliança preta, indígena e popular” (Ferreira & Felicio, 2021, p. 129) vem de longe, e se mostra nas grandes lutas (como Palmares e Canudos) mas também naquelas miúdas, repetidas, que mantêm vivos jeitos de falar, de comer, de festejar, de se relacionar com outros animais, com as plantas, águas, terra e território.
Atrapalha bastante pensar que a tal “revolução” aconteceria em uma data certa do calendário, quase um portal mágico, pelo qual passaríamos para encontrar, do outro lado, prontas e acabadas, a igualdade, a liberdade e a paz. Este modo de encarar a transformação social, muito presente no pensamento de esquerda ocidental, ignora como somos tão complexos, nos construindo a partir de relações em que estão em jogo não só os mínimos necessários à sobrevivência dos nossos corpos, mas um infinito de desejos, afetos e diferenças. Se revolução é um ponto fixo no tempo, é fácil imaginar a competição de vaidades e ambição entre os que vão querer iluminar os caminhos do mundo pós-revolução ou mesmo quem ficará responsável pelas vassouras da faxina após a “batalha final”…
Em suas origens, a expressão “economia solidária”, utilizada sobretudo no Brasil, tem raízes nas lutas da classe trabalhadora na Europa e estabelece relações (sem se confundir) com a ideia de “economia social”1. Ela nomeia uma variada tradição composta de elementos como a solidariedade tradicional das corporações de ofício, experiências comunais do meio rural e confrarias religiosas, que inspiraram, já no século XIX, alternativas aos efeitos perversos do capitalismo industrial e do trabalho assalariado. É possível relacioná-las em especial à tradição do cooperativismo e do socialismo associacionista, que agrega, entre outras, as contribuições de Saint-Simon, Robert Owen, Charles Fourier, do mutualismo de Proudhon e do Cristianismo Social (Gueslin, 1998). Associações de produtores individuais, cooperativas de produção, de crédito e de consumo, sociedades de socorro mútuo foram formas pensadas e experimentadas por trabalhadores e intelectuais tanto para amenizar a pobreza e exploração crescente dos trabalhadores europeus (que perdiam a possibilidade de reprodução de sua existência por outras formas que não assalariamento), quanto para imaginar formas de suplantar o modo de produção que se consolidava.
A leitura das lutas dos trabalhadores europeus no século XIX é também marcada pelas divergências que dividiram socialistas científicos e utópicos, reformistas e revolucionários, anarquistas e comunistas, assim como produziram debates em torno do papel que o cooperativismo poderia assumir nas lutas contra o capitalismo. No centro das divergências entre as diferentes vertentes estava, sobretudo, a disputa acerca do caminho para a luta contra um inimigo comum, o capitalismo. Como na famosa pergunta de Rosa Luxemburgo: Reforma ou Revolução?
É a própria Rosa, no entanto, que, já nas primeiras linhas do prefácio de seu clássico, relativiza o “ou” da pergunta, mesmo que a disjuntiva tenha marcado ao longo da histórica as disputas de poder dentro da própria esquerda:
“O título ácido desta obra pode surpreender, à primeira vista. Pode então a social-democracia ser contra as reformas? Pode opor-se a revolução social, a transformação da ordem existente, que constituiu a sua finalidade, às reformas sociais? Certamente que não. A luta cotidiana pelas reformas, pela melhoria da situação do povo trabalhador no próprio quadro do regime existente, pelas instituições democráticas, constitui, mesmo para a social-democracia, o único meio de travar a luta de classe proletária e trabalhar no sentido de sua finalidade, isto é, a luta pela conquista do poder político e supressão do assalariado. Existe para a social-democracia um laço indissolúvel entre as reformas sociais e a revolução, sendo a luta pelas reformas o meio, mas a revolução social o fim (Luxemburgo, 2015, p. 17).
O que aqui chamamos de economia popular e solidária assume, nesse sentido, o caráter de revolução social – só que uma revolução que precisa ser processual, de longa duração, tecida em meio às contradições da realidade que não escolhemos, e que impregna tudo, até mesmo os desejos e ações de suas vítimas. Pois “a história não pode ser comparada a um túnel por onde um trem expresso corre até levar sua carga de passageiros em direção a planícies ensolaradas”. Se fosse assim, “gerações após gerações nasce[ria]m, vive[ria]m na escuridão e, enquanto o trem ainda está no interior do túnel, aí também morre[ria]m” (Thompson, 2001, p. 171).
O passaporte europeu da “economia social” deve, no entanto, nos colocar em alerta: sabemos como o transplante sem crítica de ideias e lutas estrangeiras para a nossa realidade, marcada pela colonização e escravidão, é a origem de muitos dos nossos males. Sobretudo da incapacidade de nos enxergar como inventores dos modos de vida com que sonhamos, de encontrar em nossas experiências populares e heranças negras e indígenas o espelho em que mirar.
A expressão “economia solidária” é pela primeira vez utilizada no Brasil na década de 1990, em meio ao pensamento acadêmico e no contexto de políticas públicas, sobretudo impulsionados pela onda neoliberal que começava o processo de destruição do nosso desde sempre combalido “mercado formal de emprego”. Mas apenas o nome era novo: a realidade que ele queria retratar já estava lá, em meio à tal “informalidade” (a definição pela negativa – in-formal –, aliás, é em si um problema: já revela a incapacidade de enxergar “forma” para além do branco-urbano-masculino-letrado que dá conta de participar do “mercado” e entrar nas repartições da burocracia do Estado).
A economia solidária relacionava-se, assim, à porção considerável da população brasileira cuja energia é absorvida quase completamente na dura luta de simplesmente sobreviver. São os/as protagonistas destas lutas que experimentam na carne o racismo, o machismo, os injustos arranjos geográficos do poder, o menosprezo ao conhecimento que produzem e acumulam, a destruição e expropriação dos recursos naturais – e, por isso, reúnem, de fato, as condições para guiar o processo do fazer uma outra história. E isto parece ser, como classificou o poeta Paulo Leminski, “uma das cruéis ironias da vida”: pois, no repertório “oficial” das lutas contra o capitalismo “só os bem alimentados podem lutar pelos famintos. Os muito miseráveis nem sequer se revoltam: deixam-se morrer à míngua. É preciso muita proteína para fazer uma revolução” (2013, p. 267).
Sendo um processo, a revolução precisa acontecer, portanto, ao mesmo tempo que as lutas por trabalho e renda, para que seja possível reunir as condições de energia e tempo para a construção de alianças e enfrentamentos da grande jornada contra o capitalismo:
“O sistema econômico que queremos superar ainda existe. A boa tradição da reflexão econômica diz que a nova forma de produzir e viver nasce da velha quando esta ainda pulsa […] Por isso não podemos virar as costas para o trabalho e a geração de renda em nossas comunidades, dentro de nossas famílias e sobretudo, para nossa juventude, eternamente assediada pelo consumismo do capital. Sem gerar renda não termos recursos para financiar nossas lutas, mas também as famílias que buscam renda vão migrar para outros espaços produtivos, ainda que não possuam soberania alimentar, pela ilusão do consumo (Ferreira & Felício, 2021, p. 69-70)
Como toda construção humana, a economia solidária envolve muitas contradições e ganha sentidos diversos em suas práticas. Reverbando lutas de longa data do associativismo e cooperativismo populares, movimentos sociais do campo e articulações que se intensificam a partir do Fórum Social Mundial de Porto Alegre2, em 2001, as políticas de economia solidária ganham força no Brasil a partir de 2003, com a criação da SENAES – Secretaria Nacional de Economia Solidária e a multiplicação pelo Brasil das incubadoras de cooperativas populares (a Incubadora de Iniciativas da Economia Popular e Solidária da UEFS, de que fazemos parte, nasce neste contexto). Professores/as universitários/as, estudantes, militantes de movimentos populares, Igreja católica, política institucional: os espaços se retroalimentavam naquele momento onde a acentuação da pobreza pela precarização neoliberal e a efervescência política em torno da ascensão ao poder, pela primeira vez, do Partido dos Trabalhadores, favorecia articulações contra-hegemônicas.
Nesse passo, a definição oficial dos “empreendimentos econômicos solidárias” (EES), proposta pela SENAES, para delimitar o universo de suas ações, girava em torno de cinco características principais:
“a) coletivas – serão consideradas as organizações suprafamiliares, singulares e complexas, tais como: associações, cooperativas, empresas autogestionárias, grupos de produção, clubes de trocas, redes e centrais etc.;
b) cujos participantes ou sócios(as) são trabalhadores(as) dos meios urbano e rural que exercem coletivamente a gestão das atividades, assim como a alocação dos resultados;
c) permanentes, incluindo os empreendimentos que estão em funcionamento e aqueles que estão em processo de implantação, com o grupo de participantes constituído e as atividades econômicas definidas;
d) que disponham ou não de registro legal, prevalecendo a existência real; e
e) que realizam atividades econômicas de produção de bens, de prestação de serviços, de fundos de crédito (cooperativas de crédito e os fundos rotativos populares), de comercialização (compra, venda e troca de insumos, produtos e serviços) e de consumo solidário (SENAES-MTE, 2006, p. 62).
A exigência de um caráter “suprafamiliar” parece ser a primeira e mais gritante divergência entre a realidade que temos a nossa frente e os critérios da SENAES – afinal, é, justamente, o caráter familiar uma das notas mais características da economia popular no Brasil e na América Latina: “a unidade doméstica, como microunidade de organização dos sistemas de reprodução, é a célula da economia popular, da mesma forma que as empresas, como microunidades de reprodução do capital, são as células da economia capitalista” (Coraggio, 2000, p. 57).
A definição ainda acabava excluindo experiências tradicionais de solidariedade na reprodução da vida – como as práticas coletivas de cuidado, que marcam sobretudo o trabalho das mulheres, ou os “mutirões” e “adjutórios”, tão comuns na zona rural nordestina – já que não se vinculam diretamente ao sentido mais limitado de “econômico”, isto é, atividades permanentes e deliberadas de produção e comercialização de bens, envolvendo dinheiro.
Pensamos, no entanto, que o uso da palavra “empreendimento” é o mais perigoso sinal de confusão simbólica entre o mundo da economia solidária e o universo que ronda o capitalismo neoliberal. A figura do “empresário de si mesmo”, diante da profunda precarização, drena das lutas populares pela sobrevivência todo sentido de comunidade, solidariedade e revolução, transformando-as na guerra de todos contra todos, onde cada um é o único responsável por seus fracassos de todo dia.
Essas reflexões explicam as escolhas que fizemos ao nomear o programa de extensão e núcleo de pesquisa de que fazemos parte da Universidade Estadual de Feira de Santana, desde 2009: a Incubadora de Iniciativas da Economia Popular e Solidária. O desenrolar da história brasileira nos últimos anos, inclusive no que diz respeito às contradições do progressismo à esquerda, nos mostra que estávamos certos(as).
Em meio a tantas opções3, a nossa ideia era demarcar o espaço de nossa atuação em parceria com experiências de organização coletiva de trabalhadores(as) que se dispõem a tentar atuar de forma autogestionária, num movimento de diferenciação da lógica da exploração do trabalho pelo capital. E a partir da compreensão de uma “economia das diferentes dimensões da vida“, que vai além do “mercado”, para ser também social, política, cultural, identitária, educativa, ecológica (Lima, 2017).
A ideia de autogestão assume para nós um lugar central. A origem da palavra (auto+gestão) conduz à ideia de uma ação coletiva na qual o grupo, como um todo, é a fonte de produção das normas (auto+nomia) que tornam possível esta mesma ação em conjunto (na heterogestão, característica dos empreendimentos produtivos capitalistas, um ou alguns indivíduos assumem o papel de produtores das regras, e os demais a elas aderem). Autogestão tem para nós, no entanto, um sentido que vai além da ideia meramente procedimental de tomada de decisões de forma autônoma e
horizontal (mesmo que a inclua também), ganhando um conteúdo utópico e político de insubordinação anticapitalista. Falamos, assim, de um processo educativo para o protagonismo ativo de indivíduos autônomos, que, transpondo os limites da unidade produtiva, assume um sentido revolucionário. A autogestão que nos interessa é aquela capaz de produzir autonomia e soberania – soberanias de trabalho e renda, alimentar, hídrica, energética, pedagógica, de que fala a Teia dos Povos, ao propor caminhos para produzir independência em relação ao Estado e ao mercado capitalista. Autogestão é também marca do território, no sentido de um “lugar cheio de símbolos de pertencimento alicerçados na abundância da vida” (Ferreira & Felício, 202, p. 43).
Já a inclusão do adjetivo popular tinha para nós um sentido duplamente político e pragmático. No sentido político, tinha a intenção de atender a crítica interna à versão “adocicada” da economia solidária, na qual por vezes “solidária” se confunde ou com filantropia e caridade, ou com uma versão “bondosa” ou “sustentável” do capitalismo, capaz de integrar pobres e desempregados e atender a projetos educativos do capital – como “formas de educação para a empregabilidade (para tornar vendável a força de trabalho no mercado), educação para o empreendedorismo (para estimular a ‘gestão do próprio negócio’) e educação para o (falso) cooperativismo (para garantir a nova cadeia produtiva requerida pela acumulação flexível” (Fisher & Tiriba, 2009, p. 297). Com o popular, portanto, simbolizamos opressão, luta, a centralidade de nossas preocupações nas classes trabalhadoras e mesmo a escolha metodológica pela educação popular e pelo que temos chamado de pesquisa participante (Pita, 2022). Deixávamos claro que estava ali em jogo, afinal, uma economia política dos setores populares (Lima, 2017), que molda a nossa forma, enquanto universidade, de produzir conhecimento, para colocar em questão os limites entre ensino, pesquisa e extensão (ou comunicação, como já propôs Paulo Freire) e o desafio de uma sincera horizontalidade entre diferentes tipos de saber.
Do ponto de vista pragmático, popular também nos coloca em alerta quanto às “roupas” que o Estado impõe ao trabalho coletivo. As formas populares de organização do trabalho coletivo são múltiplas e, de regra, incompatíveis com os modelos impostos pela lógica do mercado capitalista. O que se persiste chamando de “informal” tem, sim, muitas formas. Por outro lado, com o “CNPJ” das cooperativas e associações vêm também as hierarquias dos quadros de diretoria, o predomínio da linguagem escrita, os espaços masculinos e excludentes das repartições, as amarras do sistema financeiro, dos editais, da concorrência com a lógica do valor, que coloca as iniciativas no redemoinho do sempre-muito-sempre-mais (Pita, 2020). Eis porque a “formalização”, em si, deve ser encarada como uma possível estratégia política, mas assumida de forma consciente e problemática. Como nos contava Nego Bispo:
“Temos uma associação, mas ela só serve para nos relacionarmos com o Estado – tanto é que ninguém tem interesse em ser presidente. A nossa gestão é feita nos mutirões, nos velórios, nas festas, nos aniversários, nas missas, nos terreiros, nas roças (Santos, 2023, p. 50).
Isto faz sentido, em especial, para o tipo símbolo da economia solidária, a cooperativa. A armadura jurídica das cooperativas parece ser parte importante da estratégia do capital para que este modelo se mantenha inofensivo, sob a tutela paternalista e autoritária dos que podem mediar o ingresso no emaranhado de normas e rituais do mercado e do Estado. A linguagem do direito, suas diversas exigências formais, um exagerado número de órgãos, cargos e obrigações protocolares4 compactua com o discurso do “desenvolvimento”, que se acopla ao cooperativismo ao mesmo tempo que, concretamente, afasta este formato jurídico das classes populares. Faz-se, assim, “positivo para a perpetuação das pautas vigentes de dominação e exploração, já que não chega realmente a desafiá-las, mas se amolda a elas, as mimetiza, as oferece como simples mecanismo de ajuste em momentos de necessária transição” (FALS BORDA, 1971, p. 120, tradução nossa).
Logo, é também importante que sejam pautadas, ao longo do caminho, as lutas por outros modelos jurídicos de organização coletiva5 e de exercício da propriedade, efetivamente populares, que reflitam modos de viver e produzir dos povos que resistiram ao projeto de destruição do colonizador:
“A defesa e preservação de processos comunitários (que inclui a conservação de línguas, costumes e tradições), a luta pela preservação de outras formas de propriedade, defrontam-se com a permanente tendência a reduzi-las a um tipo de propriedade uniforme e única, característica do capital, expropriando não apenas a terra, mas todo um conjunto de práticas e conhecimentos, assim como sua própria existência social. Muitas sociedades tradicionais ou originárias, por terem preservado formas de trabalho cooperativo e uma base igualitária, podem propulsar lutas para além da mera demanda de incorporação do trabalho ao capital […]. (FONTES, 2012, p. 92).
Também não é por acaso que falamos em Economia Popular “e” Solidária. O nosso desejo é identificar práticas econômicas que, mesmo ainda apenas em potência, de maneira desarticulada ou individual, traduzam resistência, luta, transformação, confrontem a forma hegemônica de produzir e trabalhar. A expressão permite ver algo de revolucionário, assim, em experiências de Economia Popular inclassificáveis como Economia Solidária, ou mesmo da Economia Solidária que não são Economia Popular. Ir, afinal, além da interseção entre os dois conjuntos, porque vemos em ambos, integralmente, um mundo em transformação constante, de onde podem surgir a todo tempo as fissuras que se quer produzir no modo de vida capitalista – ou, como queria Nego Bispo, de onde as confluências poder ser forjadas (Santos, 2023). Feiras livres, diferentes dinâmicas dos camelôs no comércio de rua das grandes cidades, “vaquinhas” e outras práticas de financiamento solidário, a produção de caráter familiar, formas produtivas agroecológicas, práticas extrativistas coletivas, arranjos produtivos comunitários, de ajuda mútua entre vizinhos(as) ou amigos(as), de trocas, são alguns exemplos do que estamos de olho, pois neles entrevemos sementes de revolução.
Economia popular e solidária para nós, finalmente, tem na luta contra a opressão racial e patriarcal um dos seus eixos centrais, já que elas são, ao mesmo tempo, parte fundamental do modo como o capital acumula valor e se injeta em nossas veias, produzindo submissão, divisão e desesperança.
Os “caminhos da revolução dos povos do Brasil”, como anuncia a Teia dos Povos, são duros e íngremes, a exigir muitas alianças. Uma delas diz respeito ao esforço coletivo, que reúna trabalhadores(as) de diferentes campos – inclusive das universidades – na produção das respostas às muitas perguntas que a Economia Popular e Solidária propõe. Como trabalhar e produzir coletivamente, sem subordinação? Como organizar o uso coletivo de bens, espaços e tempos comuns e produzir compromissos em prol deste mesmo comum? Como manter acesa a chama da luta, da contestação e da criticidade e, ao mesmo tempo, criar o consenso que faz valer a pena a comunidade e a partilha? Como produzir consenso de baixo para cima, lidando com os conflitos que a busca pela autonomia produz, sem enrijecer ou hierarquizar? Como produzir consenso ao mesmo tempo que se luta contra o racismo e as estruturas patriarcais que nos aprisionam? Como fazer os saberes popular e acadêmico se entrelaçarem e fortalecerem mutuamente em prol de um compromisso revolucionário? Como produzir convivendo respeitosamente com a natureza? Como construir soberania alimentar, hídrica, energética, tecendo redes entre diferentes territórios? Como construir um mundo de “festa, trabalho e pão”?
Referências:
CORAGGIO, José Luis. Da economia dos setores populares à economia do trabalho. In: KRAYCHETE, Gabriel. LARA, Francisco. COSTA, Beatriz (Orgs.). Economia dos setores populares: entre a realidade e a utopia. Salvador: Capina/Ucsal/CESE, 2000, p. 53-80.
FALS BORDA, Orlando. Um caso transcendental de colonialismo intelectual: la política cooperativa em América. In: FALS BORDA, Orlando. Ciencia Propria y Colonialismo. Bogotá: Editorial Oveja Negra, 1971.
FERREIRA, Joelson. FELÍCIO, Erahsto. Por terra e território: caminhos da revolução dos povos no Brasil. Arataca (BA), Teia dos Povos, 2021.
FONTES, Virginia. O Brasil e o capital-imperialismo: teoria e história. Rio de Janeiro: EPSJV/Editora UFRJ, 2012.
GUESLIN, André. L’Invention de L’Économie Sociale: idées, pratiques et imaginaires coopératifs et mutualistes dans la France du XIXe siècle. Paris: Economica, 1998.
LEMINSKI, Paulo. Vida: Cruz e Sousa, Bashô, Jesus e Trótski – 4 Biografias. São Paulo: Companhia das Letras, 2013.
LIMA, José Raimundo de Oliveira. Economia Popular e Solidária e Desenvolvimento Local: uma relação estratégica. Feira de Santana-BA, Novas Edições Acadêmicas, 2017.
LUXEMBURGO, Rosa. Reforma ou Revolução? São Paulo: Expressão Popular, 2015.
PITA, Flávia Almeida. “O Direito importa?”: o marco legal da economia solidária no Brasil. Revista da ABET, [S. l.], v. 19, n. 02, 2021. Disponível em: https://periodicos.ufpb.br/index.php/abet/article/view/54690. Acesso em: 01 dez. 2022.
PITA, Flávia Almeida. Pesquisa participante: o desafio da produção de conhecimento jurídico popular e transformador. In: BRAGA, Ana Gabriela Mendes. IGREJA, Rebecca Lemos. CAPPI, Ricardo.Pesquisar Empiricamente o Direito: percursos metodológicos e horizontes de análise. São Paulo: REED, 2022, pp. 81-117. Disponível em: https://reedpesquisa.org/publicacoes/novo-ebook-da-reed-confira-o-segundo-livro-da-serie-pesquisar-empiricamente-o-direito/. Acesso em: 14 ago. 2024.
PITA, Flávia Almeida. Formatos institucionais das iniciativas da Economia Popular no Brasil. IN: SILVA, Anna Carla Ferreira. SOUZA, Bárbara Luandy Freitas de. PITA, Flávia Almeida. BARBOSA, Maria Luiza D. A.. KORTING, Matheus Sehn. Contabilidade popular: diálogos insurgentes de uma construção em rede. Rio de Janeiro: Capina, 2023, pp. 33-58. Disponível em: https://www.capina.org.br/_files/ugd/e1b246_ba1de66006d948e6a8ac8f71869d5f09.pdf. Acesso em: 14 ago. 2024.
POLANYI, Karl. A grande transformação: as origens da nossa época. Trad. Fanny Wrobel. 2. ed. Rio de Janeiro: Campus, 2000.
SANTOS, Antonio Bispo dos. A terra dá, a terra quer. São Paulo: Ubu/Piseagrama, 2023.
SANTOS, Hudson Silva dos. O trabalho associado em retalhos: um estudo da (des) proteção jurídica do trabalho. Dissertação (Mestrado em Ciências Sociais e Jurídicas) – Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Direito, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2017.
SENAES-MTE. Guia de Procedimentos do SIES. Brasília: MTE, 2006. Disponível em: https://fbes.org.br/wp-content/uploads/Acervo/Publica%C3%A7%C3%B5es/guia_de_orientacao_e_procedimento_do_sies.pdf. Acesso em: 05 mar. 2018.
THOMPSON, Edward P. As peculiaridades dos ingleses e outros artigos. Campinas, SP: Editora da Unicamp, 2001. TIRIBA, Lia. FISCHER, Maria Clara Bueno. Saberes do Trabalho Associado. In: CATTANI, Antonio David. LAVILLE, Jean-Louis. GAIGER, Luiz Inácio. HESPANHA, Pedro. Dicionário Internacional da Outra Economia. Coimbra: Almedina, 2009, p. 293-298.
- Que é a expressão que, nas línguas francesa (economie sociale) e espanhola (economía social), hoje se utiliza muito comumente para falar do que, no Brasil, chamamos de economia solidária. ↩︎
- Durante o qual nasce o Grupo de Trabalho Brasileiro de Economia Solidária, assim como é realizada a oficina Economia Popular Solidária e Autogestão. ↩︎
- Hudson Silva dos Santos cataloga ao menos 14 outras expressões que disputam entre si a nomeação deste universo: “Economia Solidária, Economia Popular (e) Solidária, Empreendedorismo Social, Economia da Dádiva, Socialismo Autogestionário, Economia Criativa, Economia Plural, Autogestão, Economia do Trabalho, Terceiro Setor, Cooperativismo Popular, Socioeconomia (Solidária), Economia dos Setores Populares, Economia de Comunhão etc.” (2017, p. 28).
↩︎ - A Lei brasileira do Cooperativismo (Lei 5.764/1971) exige, por exemplo, que as cooperativas mantenham a escrituração de pelo menos seis livros diferentes, constituam ao menos dois fundos, tenham no mínimo 20 integrantes e ao menos três órgãos internos (assembleias gerais ordinárias e extraordinárias, diretoria ou conselho de administração e conselho fiscal). As obrigações contábeis-fiscais das cooperativas são igualmente complexas. ↩︎
- O Congresso Nacional discute há anos o “marco legal da Economia Solidária” e nele (Projeto de Lei n. 6.066/2019) se propõe – não sem contradições – uma nova pessoa jurídica, o chamado “empreendimento de economia solidária”. Sobre o assunto, ver “O Direito importa”?: o marco legal da economia solidária no Brasil (Pita, 2021).
↩︎
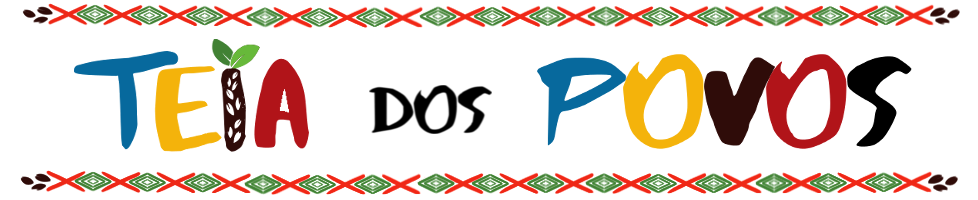
Grato!