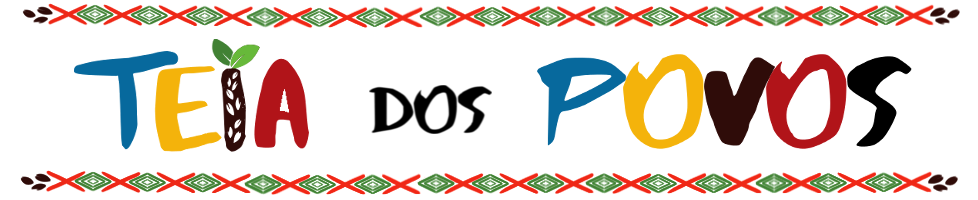Erahsto Felício e Neto Onirê Sankara
A crise climática que ameaça a vida na Terra não está isolada das lutas populares por terra, território e soberania alimentar. Através de articulações como a Teia dos Povos, ou na lida dentro do Movimento de Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), podemos produzir diagnósticos a partir da luta de movimentos populares que indicam como a situação de crise que vivemos se complexifica com o entrecruzamento de tragédias anunciadas e sistematicamente ignoradas pelos Estados Nacionais e promovidas pelo grande capital. Ao menos aqui nos interessa pensar em três dimensões dessa policrise: a crise global de fome; as mudanças climáticas; e o aprofundamento da dominação capitalista nesse período de precarização do trabalho e falsas soluções. Um ambientalismo radical dentro dos movimentos populares pode nos proteger dessas três dimensões de potencial catastrófico, envolvendo transformar a luta pela terra em estrutura fundamental na luta pelo Planeta Terra.
O território dos povos e a maioria desterritorializada
O contexto de urbanização forçada visto na história do desenvolvimento capitalista transformou em trabalhadoras assalariadas as pessoas que possuíam vínculos de vida e sobrevivência junto à natureza. Junto a isso veio também a transformação da natureza em ‘recurso natural’. O próprio termo é interessado, razão pela qual um dos mais relevantes intelectuais indígenas do Brasil, Ailton Krenak, pergunta: “recurso natural para quem?”1. Mesmo na Europa antes dos grandes cercamentos, a vida da maior parte das pessoas tinha uma vigorosa relação com o meio ambiente, com o bioma e, em certo sentido, promovia a simbiose com o meio. É do período da formação do capitalismo para cá que cresce esse processo contínuo de desassociação entre humanidade e natureza. A expansão colonial contribui para impor essa perspectiva aos espaços dos povos ameríndios e africanos que tinham – via de regra – a natureza como sagrada e, por isso, a defendiam cotidianamente em seu modo de vida. Isso não quer dizer que essa perspectiva colonial conseguiu alcançar a totalidade das pessoas que vivem no capitalismo. Ailton Krenak também nos lembra que para muitos povos indígenas a natureza ainda não é uma mercadoria: “o Rio Doce, que nós, os Krenak, chamamos de Watu, nosso avô, é uma pessoa, não um recurso, como dizem os economistas”2. E se ainda existem pessoas que não veem a natureza como mercadoria, isso significa que ainda há gente que não se converteu em trabalhadores assalariados do capital – e que busca ativamente evitar esse destino. Justamente onde esses povos vivem chamamos de territórios da vida, ou territórios dos povos: lugares onde a natureza é defendida porque os modos de viver são ligados à terra e onde existe ainda uma sacralidade na forma de ver e viver os biomas.
Sabemos que onde vivem indígenas, ribeirinhos, geraizeiros, quilombolas, caiçaras, entre outros, são territórios com ampla conservação da biodiversidade. Para termos uma dimensão, segundo o estudo da organização MAPBiomas de 2023, as Terras Indígenas ocupam 13,9% do território nacional, mas correspondem a 20,4% de vegetação nativa. Esses territórios estão entre os menos desmatados, respondendo apenas por 0,9% de desmatamento nos últimos 30 anos. Por outro lado a terra privada no Brasil teve 69,3% de perda de vegetação nativa no mesmo período. É impossível não levar tais dados em consideração ao construir uma perspectiva de ambientalismo radical dos povos. Para construir um futuro possível para os povos, pensar a questão fundiária é fundamental. Afinal de contas, a propriedade privada da terra ainda é um dos principais vetores da catástrofe que ora discutimos. Defender os territórios dos povos que sofrem racismo ambiental – braço forte do capitalismo para desterritorializar e vulnerabilizar povos e natureza – é crucial porque são eles que carregam consigo os modos de resistência e de transformação que garantem a reprodução da vida.
O que torna possível a conservação dos biomas não é outra coisa do que a posse da terra por esses povos. Não há conservação real – para além de arranjos frágeis e de curto prazo – do bioma com a insegurança fundiária. Não dá para acreditar que uma das lutas contra a catástrofe climática é subir floresta e não perguntar em que chão essa floresta estará, quem é o dono da propriedade fundiária onde haverá um processo de regeneração e qual a segurança intergeracional oferecida para manutenção e conservação dessa floresta; ou seja, quais os meios para a soberania territorial que também asseguram a sustentabilidade a longo prazo. O ambientalismo difuso que planta árvore de maneira simbólica ou aquele outro que regenera terra privada para compensar o impacto de mineradoras ou indústrias não possui projeto de sociedade que impeça a destruição generalizada ou o início de um novo ciclo de destruição quando o lucro assim determinar. Pelo contrário, é um ambientalismo que favorece falsas soluções de mercado e facilita a especulação e o aprofundamento da lógica de mercadorização da natureza. Assim, todo esforço de recuperação de uma área degradada pode virar madeira para o mercado em poucas décadas pois há uma desvinculação do processo de regeneração de uma propriedade fundiária com o modo de vida, os usos e condições de vida de um povo que vive naquele chão.
Os povos da terra vinculam sua terra aos seus modos de vida, assim são muito mais autônomos que os trabalhadores assalariados frente ao capital. Não estamos apenas falando dos fundamentais aspectos hídrico e alimentar, mas da própria experiência de vida comunitária que segue sendo uma das condições fundamentais da organização política. Explica Álvaro García Linera, ex-vice-presidente da Bolívia:
na comunidade os meios de trabalho não são propriedade privada no sentido mercantil do termo, nem o trabalho é concentrado como mercadoria, nem muito menos sua incorporação ao processo de trabalho se dá para valorizar o valor, nem existe submissão do meio de trabalho pelo trabalhador direto.3
Isso significa que há uma outra relação entre terra como meio de trabalho para os povos e que essa relação não os subordina ao capital como a vida na cidade. Para Linera, inclusive, “a possibilidade de uma insurgência autêntica contra o domínio do capital é impensável se estiver à margem da classe comunal e de sua luta por universalizar a racionalidade que a caracteriza”4. A possibilidade de uma transição justa internacional, englobando não somente elementos da transição energética, mas também a superação dos diversos modelos de destruição da natureza que se entrelaçam sob o capitalismo exige mobilização e ação massiva: uma grande rebelião climática. É necessário instigar contra a destruição das condições de vida na terra, o que indubitavelmente passa pelos saberes, lutas, modos de vida e organicidade dos povos que ainda vivem suas comunas, em seus territórios de vida.
Por outro lado, vejamos, há os territórios da destruição. Os lugares onde a relação entre natureza e civilização estão completamente apartadas, onde a humanidade luta para submeter a terra ao seu capricho e, onde, por seu turno, a classe trabalhadora é cada vez mais dependente do capital. Estamos falando das grandes cidades, do latifúndio monocultor, da destruição do garimpo ou mineração e de tantas outras formas de subordinação da vida ao lucro. Esses territórios têm crescido em ritmo acelerado nos últimos anos e submetem cada vez mais gente à condição de trabalhadores assalariados e, consequentemente, à uma guerra indireta com a natureza.
Nas últimas quatro décadas – desde a ascensão do pensamento neoliberal na sociedade brasileira – nós vimos esse quadro se agravar. Cada vez mais estamos diante de uma população que migrou às concentrações urbanas em busca de estudo, de trabalho e de serviços – no último censo do IBGE (2022) ao menos 61% da população vive em cidade com mais de 100 mil habitantes. O neoliberalismo forçou essa mobilidade, fez trabalhadores buscarem emprego cada vez mais longe de seu povo, de sua terra, e esses empregos seguem uma lógica renovada de precarização e incerteza, como é o caso do trabalho de plataforma. Isso evidentemente ajudou a desterritorializar as pessoas que longe de sua rede tradicional de apoio, agora se tornam absolutamente dependentes da subordinação ao trabalho assalariado e dos bicos precários nas cidades.
Há aí uma nova vitória do capital: cada vez menos fixos em seus empregos, os trabalhadores fortaleceram menos o poder de seus sindicatos e das organizações de classe. Longe da roça dos avós, do quintal dos pais e da assembleia de classe, as maiorias estão mais dependentes dos patrões e dos mercados. O neoliberalismo aumentou o número de pessoas longe de seu povo, sem uma pertença que não seja a condição de classe, de raça ou de gênero – não seria estranho que começassem a se organizar desde aí. É esse sujeito descolado do seu povo e do seu território que adjetivamos de desterritorializado; ou seja, aquele que por força do capital acabou se desconectando da vida pacificada com a natureza e também não tem um território para chamar de seu.
Esse contínuo êxodo rural foi intensificado com a difusão do modo de vida metropolitano como sonho de consumo, em uma contínua produção de não-lugares (lugares do capital). Quanto menos gente das terras, mais vulneráveis se tornaram à concentração fundiária. Para termos uma ideia, 1% dos proprietários rurais no Brasil já concentram metade das áreas cultivadas5. Esse uso das terras não obedece a qualquer respeito pela natureza nem busca enraizar as pessoas em comunidades rurais ou prima pela produção de alimentos para nós. Pelo contrário: os trabalhadores rurais são desvinculados da terra, assalariados e subordinados ao capital, a produção rural não é comida para o povo, mas commodities para o mercado internacional. É desse modelo fundiário que vem o aumento da destruição da Amazônia, o aprofundamento das queimadas do Pantanal, o risco real do fim do Cerrado e a desertificação da Caatinga. A maioria das emissões históricas brasileiras de gases de efeito estufa provém dessa destruição, colocando o Brasil entre os maiores emissores do mundo. Nesse contexto, mesmo que o Brasil estivesse avançando em uma transição energética justa no momento – o que não é o caso – vale destacar que os objetivos gerais de frear a mudança climática não serão alcançados com intervenção no meio da energia fóssil. A transição exige um olhar para os biomas, os territórios e quem neles habitam.
Tomemos como exemplo a catástrofe que viveu o Rio Grande do Sul entre finais de abril e início de maio de 2024. A enchente histórica deixou até o dia 21 de maio mais de 580 mil desabrigados, 182 mortos e 22% da população do estado afetada. As estimativas de prejuízos econômicos superam a ordem de 12 bilhões de reais. Agora vejamos, esse é o mesmo estado que de 1985 até 2022 substituiu 3,5 milhões de hectares de vegetações nativas por monocultivos (sobretudo de soja), algo equivalente a 22% da cobertura natural do estado. Um estado que foi precursor em políticas ambientais no Brasil viu seus últimos governos desmontar normas ambientais para alimentar a sanha insaciável do agronegócio e da especulação imobiliária. Enquanto a institucionalidade correu para permitir a catástrofe que a população gaúcha viveu, a morosidade do Estado nacional seguiu inviabilizando a demarcação de 65 territórios indígenas até hoje não homologados. O caso do Rio Grande do Sul nos parece exemplar de como a opção pelo uso desenfreado da terra como propriedade privada aprofunda a catástrofe e como um ambiente mais seguro é, necessariamente, um ambiente com mais cobertura vegetal nativa. E isso não se pode reconstruir sem pensar num ambientalismo popular, radical, que consiga congregar desterritorializados em uma luta de regeneração dos solos e biomas.
Por outro lado, há uma relação entre o movimento de saída da terra, que gera uma maioria desterritorializada e afastada da natureza, e o aprofundamento da dependência da classe trabalhadora do capital. Um exemplo direto está no acesso ao alimento. Quando o alimento fundamental para a existência material das pessoas passa a ser produto de uma das indústrias mais cruéis, perde-se parte da condição para se rebelar. Prevalece um sistema em que o alimento é mercadoria e a terra é submetida a processos de degradação e destruição ambiental para a produção de comódites de exportação acima das prioridades de saúde e de vida do povo. Nós entendemos que a soberania alimentar é uma condição emancipatória para a luta popular6. Soberania alimentar que não significa ter acesso à alimentação diariamente apenas, mas o acesso à terra, sementes crioulas, condições de cultivo, armazenamento e beneficiamento de alimentos saudáveis. Um povo sem soberania alimentar tem uma margem de manobra política muito curta. O mesmo pode ser argumentado sobre a soberania energética sob uma visão centrada em megaprojetos de desenvolvimento. Não consegue se rebelar pois é chantageado com a fome e a pobreza energética se juntam à deterioração das condições de geração de vida na natureza gerada pelos sistemas capitalistas de acumulação através do alimento e da energia como mercadorias. Assim, prejudicam ainda mais a classe trabalhadora no contexto de exploração pela classe proprietária. Assim devemos olhar para onde vivem nossas maiorias e nos perguntarmos como é possível ampliar as condições de emancipação em periferias militarizadas, em cidades insalubres, em empregos cada vez com contratos mais precários, num contexto de calamidade climática e racismo ambiental. Em suma, como lutar sem garantir à própria militância o que irá comer? E quais são os requisitos para tal?
Embora as periferias sejam importantes territórios, nós não vislumbramos o surgimento das condições reais de emancipação simplesmente a partir dali por conta da militarização por parte de facções (milicianas ou traficantes) que impedem a livre organização política, enquanto faltam condições de soberania hídrica, energética e alimentar que permitam a reprodução das condições de vida em liberdade. Desde um programa político verdadeiramente transformador que encare de frente a necessidade de uma rebelião climática, nós temos que admitir que embora os territórios atuais dos povos sejam imprescindíveis para a luta em defesa do planeta Terra, eles são insuficientes. Precisamos, portanto, urgentemente construir mais e novos territórios da vida além dos espaços de luta e resistência na periferia.
Essa construção também implica pensar uma vida comunal para além do que é normalmente visto como tradicional ou de pertença. Como resultado da colonialidade, algumas tradições rebeldes já tiveram que se construir. Se os indígenas já tinham seus territórios antes da colonização e os foram perdendo ao longo dos anos, os pretos tiveram que construir suas novas comunidades aqui, seus aquilombamentos. E a história dos quilombos no Brasil ou da marronagem na América Latina nos dá pistas importantes, pois quando fogem dos territórios da destruição (da plantation) eles iam para as florestas e lá construíam suas comunas7. Essa, sem dúvida alguma, é uma pista para o nosso pensamento político: o refúgio da destruição capitalista é a floresta, sobretudo uma floresta que produz abundância alimentar8. A construção de novos territórios de vida agregará migrantes das periferias, em transição do trabalho alienado rumo às florestas. Isso implica plantá-las, visto os níveis de devastação e desmatamento que se alastram através do agronegócio, extrativismo industrial predatório e o ecocídio cotidiano do capital sob a emergência climática. Deste movimento de reconstrução e retomada saem as bases sociais e condições materiais para que as atuais periferias sejam realmente transformadas e não apenas reafirmadas.
Por fim, nós precisamos também entender que a pertença não pode ser apenas um olhar para trás, para nossa ancestralidade. Precisamos entendê-la como construção política revolucionária, ou seja, a partir de comunidades construídas pelo suor da luta, pelo ardor do trabalho coletivo que enraíza. Foi assim nos quilombos, foi assim na formação do movimento campesino no final do século XX. Acaso os assentamentos do MST não são novas comunidades formadas pela luta? Acaso não há ali um senso de pertencimento e uma vida comunal que queremos como horizonte da sociedade futura? Então que possamos também criar novos pertencimentos para além da ancestralidade, da categorização étnica, mas baseados no projeto de transformação social que encara a realidade e o horizonte de deslocamento forçado que se apresenta a cada desastre climático e apresenta novos enraizamentos e construções de território como alternativa e como prevenção de perdas e danos.
A ambientalismo radical dos povos
O ambientalismo radical dos povos em luta pode ser compreendido pela clara percepção de que não existe possibilidade de conservação da natureza sem a libertação da terra do jugo da exploração capitalista, que no campo se apresenta como agronegócio. As florestas, as águas, os minerais, tudo isso está sobre e sob a terra. Permitir que ela continue a ser explorada como mercadoria é a certeza que os elementos essenciais para a manutenção da vida também serão. Não há espaço para conciliação. A luta é por terra e território para manutenção das condições de vida nesse planeta para todos os seres. Embora atravessado pela catástrofe, o planeta não depende da humanidade para sua permanência por mais e mais eras. A responsabilidade da humanidade de parar o capitalismo destrutivo que ameaça a vida na Terra, que pode estar causando uma sexta extinção em massa9, é sobre a garantia de um planeta com humanos e os demais seres sob nosso cuidado.
É preciso ocupar as terras de quem está destruindo as condições de vida no planeta. Se antes o movimento social se movia ao julgamento da produtividade do latifúndio, agora o julgamento precisa centrar na destruição que esse promove. Há histórico nesse sentido. Em abril de 2023 o MST ocupou uma fazendo de 1.800 hectares em Jaguaquara na Bahia onde ocorria extrações ilegais de madeira e de areia. A ocupação das terras não apenas parou o crime ambiental, como a destinou à produção de alimentos agroecológicos e a geração de renda para trabalhadores rurais da região. É um caminho que já sabemos construir.
Para essa grandiosa tarefa, que exige trabalho, disciplina, compromisso e muito amor, precisamos das maiorias desterritorializadas nas grandes cidades, que hoje se encontram amontoados como entulhos. É, portanto, necessário admitir que se a calamidade climática provoca deslocamentos forçados, com migração interna desorganizada e precária, por que não considerar uma alternativa organizada de êxodo das periferias, onde nosso povo das cidades marchem para terra, semeando comunidades – territórios da vida – também como tática resiliente contra os desastres? Essa ação é fundamental não apenas porque a floresta é bonita e necessária, mas porque são esses povos que primeiro sentirão os efeitos catastróficos do colapso climático. A crise global de fome associada às mudanças climáticas pode colapsar a produção regional de alimentos e a fome se espalhará como peste pelos centros urbanos.
Essa crise já anuncia que aumentará muito os conflitos em torno da água no Brasil e no mundo10. O estresse hídrico que já existe deverá se agravar nos próximos anos e certamente afetará o conjunto da população, porém com maior severidade as periferias. Já presenciamos obituários de águas, de nascentes e riachos no cerrado, enquanto a Amazônia enfrenta seca histórica. O berço de importantes bacias hidrográficas brasileiras se torna zonas de sacrifício criadas pela classe proprietária.11
O processo de organização e mobilização dos desterritorializados forma, enfim, uma aliança campo-cidade pelo objetivo comum: a manutenção das condições de vida no planeta envolvida na superação do capitalismo. É importante evidenciar que não se trata apenas de conservar o pouco que ainda resta dos biomas e sim da sua recomposição e recuperação, conciliando defesa da vida e produção de alimentos saudáveis, nutritivos em quantidades suficiente para as comunidades e para os moradores da cidade, e a transformação da cadeia produtiva, energética e de transporte em consonância com a realidade climática. Aqui encontramos uma demanda por múltiplas soberanias, que perpassam como condição fundamental a soberania territorial.
Aqui vale um ditado popular comum, especialmente entre os trabalhadores rurais: “rapadura é doce, mas não é mole, não”. Embora seja uma tarefa urgente, necessária e bela, ela exige um trabalho duro e seus frutos serão colhidos no ápice da floresta por gerações futuras. Nós deixaremos a condição de trabalhadores alienados para uma perspectiva de trabalho como guardiões da vida, como artífice do bem comum que é a Terra. E aqui há um duplo movimento político: ao retomar a terra, o trabalhador começa a desfazer sua sujeição à classe proprietária como trabalhador alienado, ao passo que também amplia sua autonomia frente ao capital uma vez que possui maior margem de manobra tendo água, terra, alimentos, moradia e saúde. Quer dizer, é combater o capital no fundamento que o tornou possível como sistema global. Por fim, ao ir para a terra e formar novas comunidades, amplia-se a organização de classe até aqui debilitada com a crise do sindicalismo.
A agroecologia cumprirá um papel importante nessa missão. Para o MST e os povos reterritorializados, a agroecologia é mais que uma ciência, é um modo de vida, uma forma de conexão, que gera simbiose entre sociedade, a natureza e seus ciclos. A agroecologia não pode ser reduzida a um conjunto de técnicas, porque é através de sua perspectiva política que chegamos à missão da classe trabalhadora de fornecer não apenas comida de verdade, mas também água, floresta, ar puro e sua emancipação.
É pela agroecologia que poderemos sementiar esperança em corações embrutecidos pela exploração do capitalismo. Não cabe uma leitura romântica e fantasiosa sobre o árduo trabalho a ser feito, pois o sol quente, a terra dura e degradada pelo monocultivo ou pecuária precisarão ser enfrentados – ainda mais sob condições climáticas cada vez mais adversas. Por isso o uso da tecnologia e maquinários são bem-vindos e necessários, desde que subordinados aos objetivos e princípios da norteadores da agroecologia – uma espécie de viver bem na relação com a natureza e no combate à exploração da gente pela gente.
É pelo trabalho coletivo, desalienado, que a humanidade encontrará sua liberdade. Trata-se de uma estratégia em que a apropriação comunitária do fruto do trabalho permitirá que as pessoas saboreiem o sentido de fartura de forma verdadeira. Tomar a terra, construir territórios e comunidades compromissadas com a recuperação dos biomas, eis as principais tarefas de nossa geração para uma transição socioecológica emancipadora.
(O texto acima é a introdução ao dossiê do Instituto Alameda “Transições energéticas: justas e além”, com edição de Sabrina Fernandes. Confira outros artigos em português no site: https://alameda.institute/pt/publishing/energy-transitions/)
- KRENAK, Ailton. Ideias para adiar o fim do mundo. São Paulo: Editora: Companhia das Letras, 2019, p.22. ↩︎
- Ibdem, p. 40. ↩︎
- GARCÍA LINERA, Álvaro. A potência plebeia: ação coletiva e identidades indígenas, operárias e populares na Bolívia. São Paulo: Boitempo, 2010, p. 62. ↩︎
- Ibdem. ↩︎
- Ver Zimerman, A., Correia, K.C., Silva, M.P. (2022). Land Inequality in Brazil: Conflicts and Violence in the Countryside. In: Ioris, A.A.R., Mançano Fernandes, B. (eds) Agriculture, Environment and Development. Palgrave Macmillan, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-10264-6_6 ↩︎
- Ver FERREIRA, Joelson; FELÍCIO, Erahsto. Por terra e território: caminhos da revolução dos povos no Brasil. Arataca (BA): Teia dos Povos, 2021. ↩︎
- Para uma reflexão sobre a fuga para as florestas como construção dos refúgios marrons ou quilombolas, ver BONA, Dénètem Touam. Cosmopoéticas do Refúgio. Tradução de Milena P. Duchiade. Florianópolis: Editora Cultura & Barbárie, 2020, p. 47.
↩︎ - Clóvis Moura argumenta que a roça quilombola era espaço da agricultura policultora – em oposição à plantation – e da abundância – em oposição à precariedade da vida escrava. Ver MOURA, Clóvis. Os quilombos e a rebelião negra. São Paulo: Editora Dandara, 2022, p. 47 e 49.
↩︎ - Ver Ceballos G. and Ortega-Baes P. La sexta extinción: la pérdida de especies y poblaciones en el Neotrópico. Pp. 95-108, en: Conservación Biológica: Perspectivas de Latinoamérica. (Simonetti J., R., Dirzo, eds.) Editorial Universitaria. Chile: 2011.
↩︎ - “A escassez de água afeta aproximadamente 40% da população mundial e, segundo estimativas das Nações Unidas e do Banco Mundial, secas poderiam colocar 700 milhões de pessoas em risco de deslocamento em 2030”. Ver https://www.bbc.com/portuguese/geral-58319129. No Brasil a CPT registrou 225 conflitos por água em 2022, afetando 44.400 famílias. Ver https://www.cptnacional.org.br/downlods?task=download.send&id=14292:conflitos-pela-a-gua-2022-tabela-si-ntese&catid=6
↩︎ - Ramos Júnior, D. V., & Santos, V. P.. (2023). Crise energética, cercamento das águas e resistência: o desafio da construção de comunidades político-epistêmicas. Revista Brasileira De História, 43(92), 29–46. https://doi.org/10.1590/1806-93472023v43n92-04 ↩︎