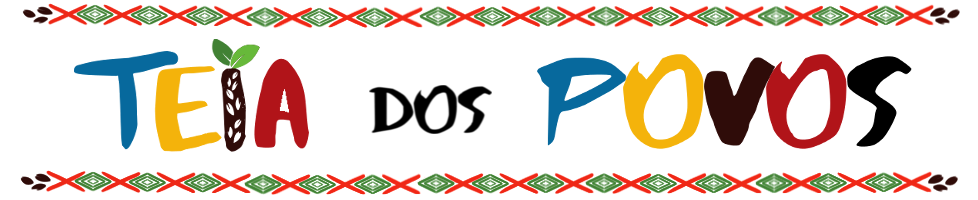Por D. Mira Alves, coordenadora do MSTB e mestra da Teia dos Povos*
Eu sou uma mulher, tive quatro filhos e lutei a duras penas para criá-los. A gente sai para trabalhar e fica sem saber se eles vão estar na escola ou não, porque, por algum motivo, a escola libera as crianças. Resultado? Nossos filhos ficam no abandono. Nossa maior preocupação, principalmente as mães solo, é essa. Tenho sessenta e dois anos e grande parte da minha vida foi dedicada a essas questões sociais.
Desde tenra idade, eu tenho esse trabalho, um trabalho coletivo, a partir da família, a partir da comunidade em que a gente vive. Eu comecei a fazer trabalho social e, depois de um tempo, é que eu vim entender que era trabalho social. Ainda menina, percebi que alguns colegas de escola tinham dificuldade de escrever, de ler e eu comecei a dar aula em casa. Arrumava uns banquinho e dizia que eu tava dando aula, que eu era professora. Na época, eu não tinha ideia de didática, de Paulo Freire, aí eu colocava uns papelzinho, ia riscando e mandava copiar embaixo. Muitos deles aprenderam a leitura junto comigo. Eu já sabia ler e escrever, com nove anos, já tava desenvolvida – minha mãe me ensinou. Mas alguns dos meus colegas com dez, doze, nada de aprender a ler. Aí, acabei ajudando. Depois, foi a questão da carta. Muitas das mães de meus colegas tinham parente em São Paulo, no Rio, em Brasília e tinham necessidade de alguém pra escrever as cartas. Me chamavam e eu ficava domingo assim, escrevendo quatro, cinco cartas pra familiares das pessoas. E por aí eu fui crescendo.
Já na adolescência, dei aula no Mobral e fui desenvolvendo minha vida. Eu gostava muito e sempre gostei do contexto coletivo. Todas essas junções que eu sabia que tinha no bairro, eu participava: em associação de moradores, em clube de mães, em missões da parte progressista da igreja católica e por aí vai. Eu vim pra Salvador e entrei no Movimento Negro Unificado, aí depois fui pra uma associação de moradores que trabalhava com a questão do remédio natural, com folhas, até que fundaram uma escola comunitária no bairro que eu morava, eu ensinei por muito tempo nessa escola e cheguei no Movimento Sem Teto da Bahia – tem mais de quinze anos que eu tô com o pessoal nessa luta. É uma questão de querer ajudar, de gostar de fazer isso e também pela necessidade, pela ausência dos apoios. Você começa a querer: “Poxa, vou ajudar, a mãe foi pra trabalhar, os menino tão na rua, vamos brincar com as criança, vamos fazer um lanche, vamos inventar alguma coisa”. Enquanto o Governo não chega – e a gente agora nem espera mais que ele chegue -, a gente mesmo vai chegando. A gente tem que fazer a nossa parte, não esperar demais.
Contra o pacto de morte
Neste território que a gente mora, quem bem chega é o braço armado do Estado. Ele chega avançando pra determinar até onde a gente pode ir, como a gente tem que se comportar. Baseado nisso, eu acabei perdendo dois filhos meus pelo terror do Estado. Meus dois caçulas, um de vinte e outro de vinte e seis, foram assassinados pela polícia. Então, é quando as coisas chegam a esse ponto, de não ter uma escola adequada, um apoio, um esporte, um cuidado com a saúde, creches… Falta tudo isso e eles investem em quê? Na violência sobre nós, pra que a gente não se coloque contra o que está ocorrendo. Mas o Movimento Sem Teto, a Teia dos Povos e muitos outros coletivos, a gente não abaixa a cabeça pra esse sistema que está aí com pacto de morte para as comunidades.
D. Mira Alves na ocupação Marielle Franco em Simões Filho – BA
No MSTB, a gente tem uma luta por moradia digna. O movimento existe por conta justamente dessa ausência das políticas do Estado. A gente se coloca pra ocupar os territórios que estão vazios, sem função social, pra dar visibilidade às nossas necessidades. Mas o que eu observo é a má vontade dos órgãos públicos de desenvolver alguma política que seja voltada pra nossa comunidade, como a gente de fato precisa. Quando eles fazem, eu não sei em que eles pensam, porque se eles pensassem como pessoas que somos, eles jamais colocariam uma família afastada da outra, eles jamais colocariam a pessoa pra morar em outra cidade, se ela nasceu naquela e tem familiar, tem tudo. Eles jamais colocariam a pessoa num local que não tem uma biboca, uma venda pra comprar um pão. Eu acho muito desumano.
Sofremos as mazelas causadas pelos governantes e a gente sente muito. As políticas constróem casas nos separando. E a gente vive em locais assim a duras penas. Não tem apoio, da parte deles, para as nossas causas. Coisas voltada pra saúde, educação e para a permanência no território que é o fundamental. A nossa luta é para que a gente permaneça nos nossos territórios. A casa por si só, as quatro paredes, não nos satisfaz. A gente precisa que próximo dela a gente tenha a condição de sobrevivência: a escola, a questão da saúde, a segurança e que a gente tenha emprego pra manter a casa, porque não adianta ter o espaço e a gente não ter nem como manter. Se não tem políticas públicas voltadas para a gente, políticas que nos reconheçam enquanto pessoas com necessidades, eu não vejo mais como ficar esperando por eles. A gente tem que tomar nossas rédeas e ver o que é que a gente vai fazer por nós. As coisas não acontecem se não for pela luta. É a luta que muda a vida das pessoas.
Caminhada em Santo Antônio de Jesus – Ba para evitar despejo da comunidade Nova Canaã
Um caminho de autonomia
Então, a gente tá buscando essa união de povos, pra que a gente tenha conhecimento de como vive cada um em seu território e pra que a gente veja o que eles têm lá e também somar. A gente tá aqui pra somar uns com os outros e ver outras alternativas de vida: que a gente possa plantar o nosso próprio alimento, construir nossas moradias com materiais biodegradáveis que não destruam a natureza do jeito que o capitalismo induz. A gente tem que ter autonomia e soberania alimentar, porque o que tem do outro lado é o agronegócio, uma coisa extremamente venenosa, ruim pra nossa saúde e pro futuro. A destruição da mata, a monocultura nunca foram coisas boas pro meio ambiente.
Não tem como se enganar mais, não tem mais como esperar. A solução é essa mesmo, a união dos povos pra resolver os nossos problemas. A gente tá tentando ver outros caminhos que dêem autonomia, que a gente tenha a horizontalidade, que a gente possa viver em paz conosco e com a natureza também. Quem mora nos territórios sabe o quanto e do que precisa. Eu viajo muito e observo: nos territórios, as pessoas cuidam de suas áreas, de rios, de florestas. Quem mora na floresta sabe a riqueza que é. Nós temos a nossa riqueza, o negócio é deixarem a gente em paz: dividir esse chão, que não é só pra eles; dividir certinho a terra pra plantar, a terra pra construir. E a gente vai viver bem, a gente sabe administrar, a gente tem todo um aparato de gestão, não precisa deles nos dizerem como deve ser ou não. Veja, por exemplo, o pessoal da agricultura, dos assentamentos, trazendo comida pras periferias urbanas e alimentando o nosso pessoal: que riqueza de gestão! E isso vem ao longo de muitos e muitos séculos. Então, não tem muito o que pedir, eles não têm nada pra dar. Eles só sabem tirar. E a gente não quer isso pra nossas vidas, pra nossos filhos, pra nossos netos.
Da cidade que eu vim, Castro Alves, eu me lembro muito bem dos idosos, das idosas. Na época, eu ficava observando como as pessoas se mantinham plantando. Era uma senhora chamada Doninha, que tinha uns quase oitenta anos, dona Caboca e dona Joana, todas assim, plantando, plantando, e continuavam com aquele vigor. Todas de cabelinho branco e fazendo esses trabalhos muito bons mesmo, uma maestria. Elas plantavam o milho e eu observava bem. Elas colocavam pra secar, depois pilavam e faziam o fubá, faziam o cuscuz, faziam o munguzá; pegava o coco… Plantavam nas portas, nos becos das casas, em algum terreno vazio, porque lá era cidade. Mas plantava. Plantava mangalô, fava, andu. Dava vontade de comer alguma coisa, a gente saía no quintal: uma limonada, uma coisa assim, sempre tinha. A gente retoma tudo isso, essa cultura, da melhor maneira possível, pra que a alimentação seja mais natural e pra reflorestar e evitar essas pandemias, essas doenças.
Não tem mais outro tempo não. É esse agora. É o que estamos conclamando através da Teia dos Povos: que as pessoas se reúnam e vejam o que é necessário pra cada território construir e reconstruir alguns espaços. Os pedaços que estão faltando, os que foram destruídos, tomados, a gente retoma. Porque essa terra toda era dos índios, foram tomadas e, hoje, são vendidas até pro exterior. Mas aqui é tudo nosso, de quem já tá construindo nos territórios e cuidando deles muito bem.
A autonomia nos territórios é o que mais a gente prima. Existem povos na Amazônia, na África, que vivem sem seguir a lógica do capital. Tem também os zapatistas no México e outras comunidades que não aceitam viver sob o capital. Enfim, tem pessoas que escolheram lutar de outro jeito, se manter de outro jeito. É uma situação muito difícil, muito pesada, porque o capital é muito perverso com as pessoas. E a gente também tá nessa necessidade de ver outras alternativas de vida que não essa de ficar esperando pela política pública do governo que nunca vai vir. Então, nós estamos envolvidas nessa aliança entre mulheres urbanas e rurais para, juntas, com as nossas ideias, com as nossas vivências, a gente poder concretizar soluções para as nossas comunidades e para levar para o mundo, porque a nossa intenção é partilhar, não ficar com os benefícios apenas para nós.
Instrumento de soberania
A formação do Fundo Soberano dos Povos já é um princípio pra que a gente tenha como sobreviver nas nossas lutas, tendo o nosso financiamento. O fundo é pra que a gente busque recurso junto aos nossos parceiros, que são pessoas que convivem em nossas comunidades, pessoas que veem a nossa dificuldade e também a nossa energia, nossa força, a nossa potência; pessoas que apostam nisso e querem um mundo como queremos e acreditam que o caminho é esse.

Informações para apoiar o Fundo Soberano dos Povos
A gente considera este fundo como instrumento de soberania pra nosso povo. A partir de um mapeamento das necessidades e urgências de cada comunidade da Teia, a gente vai ter uma noção de como e onde utilizar esse financiamento. Na verdade, o fundo é pra que nossas necessidades sejam escutadas. Por exemplo, tem essa questão das marisqueiras. Houve um tempo aí que a irresponsabilidade do governo fez o vazamento do óleo adentrar a área dessas comunidades e prejudicou a sobrevivência – porque ali foi a sobrevivência, a vida, o alimento das pessoas que foi afetado. Então, se outra comunidade não tem uma coisa assim muito necessária e urgente naquele momento, então é óbvio que vamos entender que essa daí é a prioridade daquele momento. E assim a gente vai se baseando, em respeito aos nossos companheiros e companheiras da luta.
Nós costumamos dizer que lugar de mulher é onde ela quiser. Não é? E aí, a gente vai participando em todos os setores: nas organizações, nos mutirões, nas reuniões, nos seminários… E no apoio, no cuidado umas com as outras e com os outros também, a gente cuida dos homens, dos idosos, de todos. E essa questão do fundo é uma atividade pra nós mulheres, porque os homens já fazem esse trabalho o tempo todo e a gente também pode fazer. Lá fora, esse trabalho econômico é muito visto, mas pelos homens. As mulheres podem lavar, podem plantar, podem fazer tudo à vontade, mas na hora do dinheiro, é na mão de homens: é gerente de banco, é gerente não sei de quem, algum presidente… Agora, nós queremos gestar. A gente aceita homens colaboradores, e já temos, inclusive. Mas cá, a gente vai começar gestando pelas mulheres.
*Este texto foi produzido em colaboração com a divisão de comunicação da Teia dos Povos, a partir do diálogo com D. Mira Alves para o Podcast Solo Comum, uma iniciativa do Coletivo feminista e anti-capitalista de tradução Sycorax.