
Por Erahsto Felício
A luta popular machuca. Não ela em si. Porém estar nela te faz ou um alvo de uma violência direta ou como um objeto circundado de violências indiretas que lhe vão machucando internamente. Traumas, sequelas, banalizadas na vida dos povos racializados alcançam, em meio à luta, uma gravidade que nem sempre conseguiremos suportar. Estou há 21 anos atuando em movimentos. Nunca conheci alguém que passou ileso, sem desenvolver qualquer tipo de sofrimento em consequência da atuação política. Não digo que não exista essa pessoa – gostaria, inclusive de conhecê-la. Contudo, minha observação empírica me recomenda tratar esse sofrimento associado à luta popular como uma certeza com a qual precisamos aprender a lidar.
“Quem ama de verdade vive no coletivo e não passa necessidade”
Essa poderosa frase estampada na sede do Movimento das Comunidades Populares (MCP) em Feira de Santana (BA) lança, de antemão, o antídoto para o mal que estou prestes a discutir. E começo logo de partida com o antídoto para evitar que o pessimismo que abate como sintoma as esquerdas brasileiras já olhem para esse texto como uma razão a mais para parar a atuação e a luta popular. Não! Esse não é um alerta para informar que nosso meio pode ser também tóxico, que há desacertos éticos na condução da luta que podem nos machucar. Creio que a maturidade de nosso envolvimento na luta política já rompe a ilusão da associação direta entre organização de esquerda e perfeição na conduta. Esse texto é um alerta para a necessidade de atuarmos coletivamente no processo de ajudar a sanar o coração da militância para que tenhamos uma luta mais longeva. E, bom, o segredo está no amor, mas também na coletividade.
Eu atuei na comunicação da Teia dos Povos pelo menos desde 2017, praticamente construindo o que chamamos de Divisão de Comunicação, ali pelos idos de 2019 e, ficando à frente, desse coletivo até próximo a 2022. Essa posição me levou a acompanhar excessivamente dores que seguramente devem ter me levado a um transtorno de estresse pós-traumático. Coisas aqui dentro de mim se quebraram por conta da atuação política. Vou dar exemplos para que percebam: recebi em minha casa e escutei diretamente a história de terror e tortura que atingiu o Quilombo de Batateiras; nós acompanhamos de perto a luta por terra no Quilombo de Graciosa (Taperoá-BA) e as ameaças às suas lideranças; ouvimos o relato de Hamilton Borges de quando a polícia colocou a arma na sua cabeça no meio da horta que fizemos para selar a aliança da Teia com a Reaja; não tardou e em 2019 nós tivemos que correr para ajudar Neto Onirê Sankara que sofreu tentativas de execução por estar lutando por terra no baixo sul da Bahia; ouvimos os áudios de militantes da Reaja torturados pela polícia e tivemos que ajudá-los a sair de onde estavam; escutamos Cacique Ramon Tupinambá contar das muitas ameaças de morte que recebeu pela luta pela TI Tupinambá de Olivença; ajudamos a refugiar famílias que estavam em linha de execução nas periferias de uma grande cidade da Bahia, escutamos da família toda a história de execução de um de seus filhos; fomos ao aniversário de cinco anos da chacina do Cabula e vimos a intimidação policial ocorrer com helicóptero, viaturas e homens armados, tendo que sair exatamente enquanto a TV saia para nos salvaguardarmos; vivemos o drama do invasão zero atacando território do MST no Vale do Jiquiriçá e passamos pelo menos uma noite rezando e sem qualquer notícia do companheiro Neto Onirê; ouvimos a voz de Dona Mira contando sobre como ficou após o assasinato de dois filhos seus em Salvador; e estávamos na casa de Cacique Nailton algumas horas após ele ser alvejado por fazendeiros no dia em que Nega Pataxó foi assasinada com a conivência das forças do Estado. Paro por aqui. Nada é sobre mim. Toda a luta aí foi coletiva. Porém em minha memória e, certamente, em meu coração há outras tantas que certamente me machucaram, mas que não podiam vir para esse texto. Algumas, inclusive, eu sequer consegui guardar na memória ou perceber que me machucam.
Ora, se fosse apenas uma dessas, nós já deveríamos estar preocupados com as consequências e as potenciais sequelas que isso poderia acarretar na nossa vida. Porém, nós não paramos em nenhum momento de viver essas notícias terríveis, sofrer pelos nossos amigos, companheiras e por gente que criamos laços profundos. Obviamente as dores são ainda mais severas para quem viveu diretamente cada violência dessa e soube das demais. Sanar essas cicatrizes que existem no corpo, na memória e nas emoções, não é simplesmente mandar fazer terapia. Nossas saídas não são as mesmas do mundo individualista da burguesia. Aqui não foram traumas pontuais e nem individuais. Estamos falando de pouco mais de cinco anos de atuação com uma série de violências brutais ocorrendo sem que sequer consigamos processar corretamente enquanto articulação.
Quando saímos da cerimônia de memória pelos cinco anos da Chacina do Cabula, diante da pressão vil da polícia baiana, Hamilton Borges, fundador da Reaja, falou, palavras mais, palavras menos: “nós aprendemos a sair para rua todos os dias para perder. Essa é a teoria geral do fracasso. Nós não saímos para ganhar, porque somos poucos, porque não temos as armas que eles têm. Mas todos os dias nós seguiremos saímos. Nós não temos nada. Mas o que temos estará aqui na luta junto com vocês”. É muito pesado isso. É o lado certo da história. Contudo o peso de estar nesse lado certo afasta muita gente que não consegue simplesmente suportar. Há quem não queira passar por essas experiências. Há quem não queira viver isso.
Ora, certamente nossos mais velhos, sobretudo aqueles que tomaram a terra de volta ou impediram a matança de seu povo, viveram violências ainda mais pesadas e, talvez, calejaram seu corpo e sua alma diante de tanta violência. Ao escutar as histórias, conhecer os conflitos, nós conseguimos ter uma dimensão da dor que esses mais velhos carregam. Não é por outro motivo que chamamos respeitosamente de mestres, de mestras, pois apesar de toda aquela dor souberam se manter firmes e seguir na luta até hoje, mesmo quando o corpo diante da força do tempo já não responde como antes. Contudo há que lembrar que os calos são cicatrizações que uma após a outra vão tornando parte de nossa pele menos sensível. E também deve nos fazer entender ali e acolá as dificuldades de interpretação e interpelação entre nossas dores e das gerações passadas.
Nós que somos mais novos (hoje nem tanto) temos um desafio diante de nós: honrar a constância e firmeza dos mais velhos que seguiram a luta apesar dos traumas e, ao mesmo tempo, aprender a como sanar nossos corações destroçados em meio às atividades de luta. Sanar aqui não significa parar de sofrer. Pelo contrário, é possível que na luta da vida real o ganho de consciência te faça sofrer ainda mais antes daquela dor aliviar. Sabemos de alguns povos que construíram saídas com escutas coletivas, práticas espirituais e, sobretudo, o fortalecimento da experiência comunitária para acolher a dor de lutar por seu território. Observem, não buscavam formas de apagar a dor, mas de acolhê-la coletivamente. Sabemos também que há muitos feridos das batalhas que não conseguiram ainda se aprumar, não falam sobre suas dores, sequer estão conscientes que dói tanto. São outros tempos. O capitalismo intensificou a destruição de comunidades, a classe trabalhadora hoje tem muito menos estabilidade financeira, migramos o tempo inteiro por estudo ou trabalho, sofremos com um consumismo cruel em meio à uma precariedade laboral comparada à escravidão em muitos espaços. São muitas camadas de sofrimento e lutar hoje possui um peso ainda maior, sobretudo, porque a minoria das pessoas em luta estão ligadas à terra ou em luta por ela. A terra acaba congregando uma comunidade e a experiência comunitária nos ajuda a passar pelas privações. Assim, não há dúvida, da urgência de começarmos a construir experiências de acolhimento e cuidado da militância para que essa possa seguir apesar da dor.
Como o MCP ensina: “Quem ama de verdade vive no coletivo e não passa necessidade”. Nós ainda estamos aprendendo com a experiência fantástica desse movimento. Gente que manteve uma organização popular de resistência à ditadura e conseguiu uma resiliência de tal forma que ainda hoje estão organizando o povo e construindo vida digna. Contudo, ainda estamos aprendendo. Porém essa frase sintetiza um dos aspectos fundamentais que precisamos pensar nessa caminhada sobre autocuidado da militância: a vida no coletivo. Nesses tempos de ativismo difuso (sobretudo pela internet) até se luta coletivamente, mas não se vive coletivamente. E é difícil cuidar, ajudar a sanar, se não convivemos com aquele companheiro, aquela companheira em sofrimento decorrente da luta. É difícil, inclusive, identificar o coração alquebrado quando só nos vemos em meio aos atos, reuniões organizativas, mutirões e etc. É na ordinariedade do convívio, no ócio da experiência política, no silêncio dos discursos, é que conseguimos perceber, parar para dialogar e começar o rumo da cura.
Ainda não estamos prontos para esse desafio. Por isso a necessidade de escrever. Ao mesmo tempo, o sonho utópico de fazer quilombo novo, de construir novas comunidades, de tomar a terra para proteger a vida na Terra, nos parece parte fundamental da terapêutica. Sobretudo porque uma vez mais precisamos lembrar porque estamos lutando: para cessar um sistema de violências que não nos tem cansado de vencer. A cura definitiva, não há dúvida alguma, é a nossa vitória coletiva. Porém até lá, precisaremos aprender a sanar nossos corações para nos pôr em marcha.
Ainda que a experiência possa ser individual, viver não é. Viver é coletivo. E aí nós precisamos entender que não vai parar de doer. Ainda que você esteja no ápice de sua terapêutica individual. Viver uma experiência é tirar uma consequência dela. Dar um destino a essa experiência. Até agora eu não conheci melhor remédio para esse mal que não as consequências da luta. Ora, lhes contei uma série de violências, mas não o fim daquelas histórias. Neto Onirê não apenas sobreviveu, como ajudou a tomar mais de 1300 hectares para os sem terra em Jaguaquara; também ali enfrentou e obteve importante vitória contra os latifundiários armados pela organização paramilitar que nos ronda; Dona Mira não é apenas uma referência da luta das Mães de Maio, como transformou sua dor em luta coletiva lutando por moradia para os sem teto do MSTB – hoje é sem dúvida um dos grandes nomes da luta popular em Salvador; embora a Reja tenha deixado de existir enquanto organização, não perdemos os militantes que relatamos, conseguimos coletivamente apoiar uma nova vida para eles; a Reaja criou o Instituto Quilombo Xis que está ainda hoje formando uma geração nova de lutadores pretos e pretas em busca de emancipação.
A lista poderia continuar, porém queria ao final falar da melhor experiência individual da minha vida na Teia dos Povos. Quando um dia fui até um território onde ocorria uma formação política, fui procurar minha filha bebê que brincava e descobri que estava sob os cuidados de uma pessoa. Quem era? Uma pessoa da família que ajudamos a sair da via de execução. Ora, emoções entrecruzadas: eu estava feliz porque a pessoa estava bem, ela conhecendo o rosto por trás das mensagens que a ajudou. Eu nunca a tinha visto até aquele dia, mas ela amava a mim e a minha família de um jeito que jamais conseguiria traduzir em palavras. Não era apenas gratidão. Havia ali uma libertação através da luta de uma dor que já não era mais razão de silêncio, já não era traumática Agora aquela história era motivo de orgulho, espaço de reflexão sobre a superação da vida em coletivo.
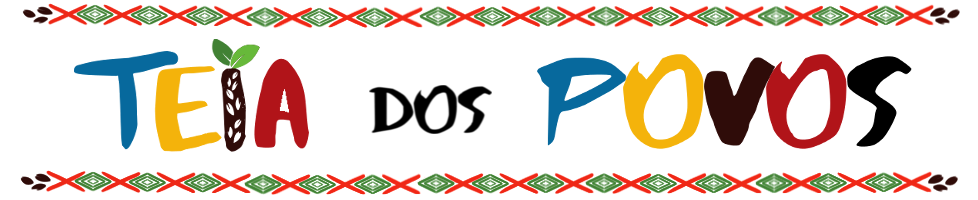
Parametrização da Interação
Citação
_《A guerra civil está em relação com a não homogeneizade do Eu. Cada um de nós é feito de pedaços contrapostos com uniões paradoxais e desuniões. A guerra não produz novos doentes, ao contrário. Há muito menos neuroses durante a guerra do que na vida civil, e há até mesmo psicoses que se curam.》 _
Francesc Tosquelles
Tese
• A luta política é também uma atividade terapêutica. Assim como toda atividade terapêutica deve ser também uma luta política.
• Não há como se manter saudável (seja física, emocional ou psicologicamente) em meio a relações sociais enfermas.
• Não há luta revolucionária sem terapia revolucionária, e não há terapia revolucionária sem luta política revolucionária.
Analisar o texto abaixo referenciado sob a perspectiva do PDE (Processamento Desejante Emancipador) e a partir da parametrização e da tese acima.
*Sanar o coração para ser constante na luta*, Erahsto Felício
Publicado em:
https://teiadospovos.org/sanar-o-coracao-para-ser-constante-na-luta/
Retorno da IA Llama 3.2
Análise do texto “Sanar o coração para ser constante na luta” sob a perspectiva do Processamento Desejante Emancipador (PDE) e da parametrização:
Pontos-chave
1. *Interconexão entre saúde mental e luta política*: O texto destaca a importância de sanar feridas emocionais para manter a constância na luta política.
2. *Necessidade de terapia revolucionária*: A luta política é também uma atividade terapêutica, e vice-versa.
3. *Relações sociais enfermas*: O texto enfatiza que relações sociais desiguais e opressoras afetam negativamente a saúde mental.
4. *Autocuidado como ato político*: Sanar o coração é essencial para manter a resistência e a luta contra opressões.
Parametrização da Interação
1. *Desejo de libertação*: O texto expressa o desejo de superar opressões e relações sociais enfermas.
2. *Consciência crítica*: Reconhecimento da interconexão entre saúde mental e luta política.
3. *Ação coletiva*: A luta política é vista como uma atividade terapêutica coletiva.
4. *Transformação pessoal e social*: Sanar o coração para transformar a sociedade.
Relação com o PDE
1. *Emergência da consciência*: O texto ilustra como a consciência crítica emerge da interação entre desejo de libertação e ação coletiva.
2. *Processamento desejante*: A luta política é um processo desejante que busca transformar relações sociais.
3. *Integração de opostos*: O texto integra terapia e política, demonstrando a interconexão entre saúde mental e luta social.
Referências
1. Deleuze, G. e Guattari, F. – “Anti-Édipo” e “Mil Platôs”.
2. Tosquelles, F. – “A guerra civil e a não homogeneidade do Eu”.
3. Felício, E. – “Sanar o coração para ser constante na luta”.