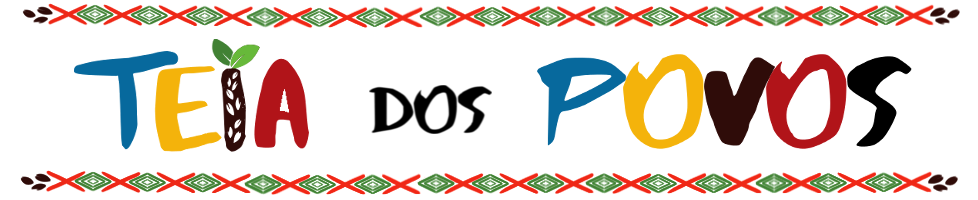Há três anos, no dia de finados de 2017, uma multidão que contava entre 600 e 1.000 pessoas atacava duas fazendas do Grupo Igarashi na cidade de Correntina na Bahia. Aqueles ribeirinhos revoltados queriam defender o Rio Arrojado que estava secando pelo uso excessivo de água daquela grande representante do agronegócio na localidade. O uso extensivo de pivôs para irrigação minguava um rio que era fonte de vida e de renda para muitas comunidades. Aquele povo já tinha reclamado com o INEMA, órgão do governo do Estado da Bahia responsável pelas outorgas de água, bem como com as autoridades locais. Ninguém lhes deu ouvido. Bastou a violência para que suas vozes fossem ecoadas até o noticiário nacional.
O governo do Estado, comandando pelo Partido dos Trabalhadores, enviou rapidamente tropas da polícia militar para reprimir os manifestantes e defender a propriedade privada. O governador Rui Costa não poupou críticas ao que chamou de “bando de destruição”. Ignorou-se que se tratava de pessoas que gritavam diante dos policiais: “ninguém vai morrer de sede nas margens (do Rio) Arrojado!”. Não se tratavam, portanto, de mero vandalismo, mas de uma defesa do território. A imprensa, sempre ao lado do agronegócio, os chamou de bandidos à terroristas. Falavam em 60 milhões de prejuízos para o grupo Igarashi que viu transmissões de eletricidade, bombas de captação de água, pivores, prédios e outros equipamentos destruídos. O que se imaginou, portanto, é que além da repressão policial e do sistema judicial, haveria agora um recrudescimento do movimento acuado frente a deslegitimação em cadeia nacional de rádio e TV. Pois bem, foi exatamente o oposto que ocorreu. Nove dias após a destruição das fazendas, uma multidão de mais de 12 mil pessoas (1/3 da população local) ocupou as ruas de Correntina em defesa das águas e da ação dos ribeirinhos.

Rebeliões como esta dos ribeirinhos em defesa do Rio Arrojado não são incomuns na história do Brasil, ainda que nos últimos anos, ações concretas do povo como esta vêm sendo substituída cada vez mais por conciliações, negociações e ações políticas mais simbólicas, propriamente do campo das representações – como jogar lama no prédio da Vale para protestar contra a destruição do Rio Paraopeba ou fazer uma manifestação pacífica contrária ao governo fascista. Poucos movimentos sociais organizados no Brasil possuem uma clara intenção de pensar a autodefesa e conquistar seus objetivos por todos os meios necessários. Claramente as organizações do povo têm buscado um caminho legalista de reivindicação de direitos, mas na contramão estamos vendo governos progressistas e fascistas recorrerem a violência contra o povo numa escala pouco pensada uma década atrás.
O Brasil já vive sob o domínio da violência. Nesta eleição o poder do domínio territorial das milícias acendeu (muito tardiamente) o alerta da imprensa liberal sobre a influência destas no destino da democracia brasileira. As mortes violentas seguem atingindo sistematicamente os corpos pretos num “epidemia” de assassinatos que alcança quase 58 mil mortos por ano em períodos de queda deste número. Tudo isto sem discutir todas as violências do encarceramento em massa dos pretos, as violências policiais cometidas nas quebradas e contra movimentos sociais e todo um sistema de exclusão e segregação que marginaliza e ceifa dezenas de milhares de vidas todos os anos de forma silenciosa. A violência de Estado é tão brutal que mesmo jovens que vão protestar pacificamente contra o aumento de uma passagem são brutalizados por uma PM marcada pela sua sede de sangue e por sua defesa dos interesses do mercado ante a vida do povo. Ainda assim a opção de nossas lutas tem sido a não violência. E a pergunta que fica é: nossa não violência diminuiu ou parou a violência deles?
As últimas notícias que recebemos da política no país nos informam, por exemplo, que a Força Nacional foi usada ilegalmente contra assentamentos do MST no extremo-sul da Bahia; que seguem o assassinato de lideranças campesinas como Ênio Pasqualin do MST do Paraná; e, por fim, que tramita no Congresso Nacional o PL 5050/2020 de autoria do Deputado Federal Fernando Randolfe do PL de Pernambuco. O projeto de lei visa incluir os movimentos sociais na lei antiterrorismo (13.260/2016) e colocar a Força Nacional e a as Forças Armadas para reprimir “situações de grave perturbação da ordem”, além de colocar como competência da Justiça Militar qualquer violação contra as Forças Armadas. Ou seja se as Forças Armadas forem reprimir uma manifestação e alguém resistir à prisão ou reagir, invés de ir à justiça comum poderá ir à Justiça Militar. Essa mesma justiça que mandou soltar 9 militares que fuzilaram com 80 tiros um músico e um catador, ambos inocentes, em 2019. Se nossa pacificação não traz paz aos povos, por que seguimos?
Para pensar nisto, quero falar de como o sistema violento de pacificação do povo é operado pelo Estado. Em julho de 2019 nós vimos o assassinato do cacique Emyra Wajãpi da Terra Indígena Wajãpi no Amapá. Ele foi morto a facadas por garimpeiros invasores daquele território que lhe perfuraram os olhos e deceparam a genitália. O povo de sua aldeia juntou-se a outras aldeias para poder defender seu território e, possivelmente, vingar sua morte. Contudo a Polícia Federal chegou à Terra Indígena para evitar um conflito e assim foi feito. O garimpo segue assediando aquelas terras até hoje. A política ambiental lesa-pátria atual e o sistema de justiça não puseram fim aos garimpos em terras indígenas, mas seguem evitando um conflito entre indígenas e garimpeiros. Ou seja, escolheram o lado da destruição e da pacificação dos reais donos da terra.
O caso em Correntina também possui isto em sua gênese. Em 2015 – portanto dois anos antes da destruição das fazendas – uma multidão de 6 mil pessoas protestou nas ruas daquela cidade em defesa dos Rios. Esta, portanto, é uma luta mais longeva que remonta há pelos menos seis décadas de ocupação violenta do agronegócio naquelas terras. O que se viu diante da manifestação pacífica foi o silêncio das autoridades e nenhum tipo de intervenção do Estado no poder do agronegócio local. Mas um detalhe sobre as terras daquelas fazendas nos ajudam a entender como não se trata apenas de omissão do Estado, mas de participação, conluio, do Estado com o latifúndio. Segundo autoridades locais, as fazendas da Igarashi estavam numa área de aproximadamente 600 mil hectares que pertencem ao Estado da Bahia e foram, portanto, griladas pelo latifúndio. São terras que deveriam ser destinadas à reforma agrária ou conservação do bioma Cerrado. Em ambos casos o Rio Arrojado estaria mais seguro. Contudo quando o povo fez ação direta, usou da violência, de sua digna raiva, então centenas de policiais foram deslocados para impedir que o povo fizesse justiça ao rio e sua gente.
Um último aspecto deve ser mencionado sobre como o Estado – como operador da política das elites brancas – tem pacificado-nos violentamente. Já se instalou em nossa memória coletiva o peso da repressão policial. Sejam as memórias da última ditadura, seja o cotidiano das violências nas periferias ou ainda a violência usada contra manifestantes em luta por direitos, o fato claro é que as esquerdas e os povos estão sendo avisado cotidianamente que não podem lutar. Sim, as esquerdas, porque os protestos massivos protagonizados pelas direitas pró-golpe de 2016 tiravam fotos com a polícia, quando não eram apoiadas por esta. E embora esta doutrina da violência às manifestações de esquerda seja uma constante, ela tem convivido com bloqueios de avenidas, queimas de ônibus e pequenas violências políticas que reagem aos assassinatos cometidos pela polícia em cada quebrada do país. É uma resistência contínua que não chega furar o bloqueio, mas deixa acesa a chama.
Em 2008, servidores municipais de Tutóia no Maranhão destruíram a casa do prefeito e a empresa de seu filho por atrasos no pagamento dos salários. Violências similares ocorreram em três outros municípios daquele estado naquele mesmo ano. Três anos depois, em Valença na Bahia, o luto pela morte de um vigilante assassinado por criminosos fez uma multidão atacar a câmara de vereadores e quebrar e saquear as lojas do então prefeito da época. Ações como estas se espalham pelos interiores do Brasil mostrando claramente que se as organizações políticas brasileiras caminharam e caminham pelas normas da lei, o povo brasileiro sabe muito bem que em alguns momentos, só a violência pode lhes dar voz.
Frantz Fanon, em Os condenados da terra, nos explica três questões que nos parecem úteis para entender que a “a descolonização é sempre um fenômeno violento”:
“Para o povo colonizado, o valor mais essencial, por ser o mais concreto, é primordialmente a terra: a terra que deve assegurar o pão e, bem entendido, a dignidade da pessoa humana”;
“O campesinato é abandonado sistematicamente pela propaganda da maioria dos partidos nacionalistas. E é evidente que nos países coloniais somente o campesinato é revolucionário”;
“O explorado compreende que a sua libertação exige todos os meios de ação e, em primeiro lugar, a força”.

Assim, fica claro que as condições da rebeldia na ação concreta partem de questões fundamentais como a terra e as violações à sua casa, seu corpo, aspectos da dignidade daquele povo. Por isto as pequenas violências populares (queimar um ônibus, destruir uma loja, quebrar a casa do prefeito) estão conectadas com a morte, a terra, a comida. Para nós na Teia dos Povos, contudo, o que sintetiza isto é a Terra e o Território, pois é dali que virá a maior rebeldia, de gente que defende sua casa, sua forma de viver. E está claro que esta rebeldia revolucionária que constrói, que avança no processo de organização é algo mais comum entre os campesinos, os povos dos campos, das matas, dos rios – as guardas colombianas não nos deixam enganar, neste aspecto. A cidade, embora com sua própria rebeldia, é um espaço militarizado e com todo um aparato do Estado para impor a negociação, a conciliação ou, o pior, a simples sujeição.
Por fim, muitos povos possuem completa clareza sobre o papel da violência. Cacique Nailton Muniz da Terra Indígena Caramuru Catarina Paraguassu sempre fala: “não tem um pedaço de Terra Indígena que não tenha tido sangue derramado para haver a demarcação”. E essa violência não é necessariamente a morte do inimigo, mas a intensa pressão popular. Passado três anos da rebelião popular em Correntina há um inquérito aberto, mas não há presos. Isto fortalece a experiência que Mestre Joelson (MST) tem repetido muitas vezes: “nos tempos das boas lutas do MST, militante não ficava preso porque nosso povo acampava na frente do fórum, da delegacia, mulheres e crianças à frente, homens com foice atrás, muito canto e disposição pra vencer”. É a pressão popular que muda os rumos do sistema de justiça, não pode ser o oposto.
Cada vida perdida de guerreiras e guerreiros desta luta dos povos não pode cair apenas na menção de que eles seguem “presentes”. Há um ano assassinavam Paulinho Guajajara, um guardião da floresta que decidiu dar a vida para impedir que tomassem o território de seu povo. Devemos nos perguntar neste dia dos mortos se não tem chegado a hora de parar o morticínio dos debaixo numa luta por defesa de nossas vidas, de nossos territórios e de nossa dignidade. A cada dia que atrasamos nossa organização em torno da autodefesa, aqueles e aquelas que buscam se defender do capital e do racismo ficam mais isolados e, portanto, com mais riscos de irem ao chão. A harmonia social que eles querem é o pesadelo da vida, é o reino da destruição de biomas e da gente simples deste país.
Paz entre nós, guerra aos nossos senhores.